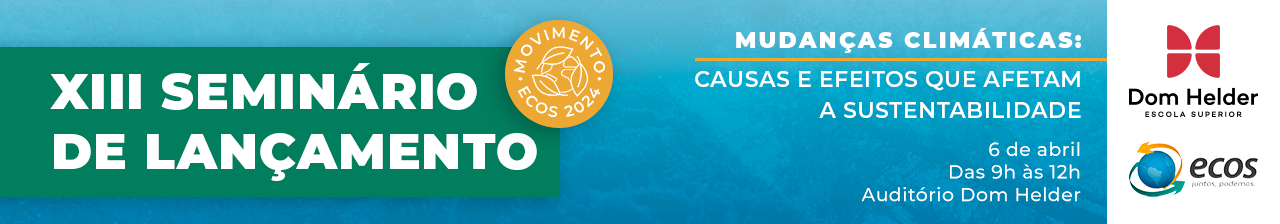Pode a natureza falar? Pode a natureza nos contar os males que lhe afetam? Descontando a linguagem verbal criada pelo ser humano, a natureza não verbaliza; o que, sim, possui é uma capacidade infinita de comunicar, mediante outras linguagens não propositais, um conjunto de sobressaltos que a estão perturbando. O aquecimento global é uma destas mudanças drásticas que diariamente a natureza nos informa. Mudanças abruptas do clima, secas em regiões anteriormente úmidas; derretimento glacial, cataclismos ambientais, furacões com força nunca antes vista, transbordamentos crescentes de rios… etc., são só alguns dos quantos efeitos comunicacionais com os quais a natureza informa sobre o que lhe está ocorrendo.
Não obstante, a maneira como as catástrofes ambientais afetam a vida da humanidade não é homogênea, nem equitativa; muito menos o é a responsabilidade que cada ser humano tem em sua origem.
Classe e raça ambiental
Na última década, pode-se constatar que as catástrofes naturais mais importantes estão presentes em todo o globo terráqueo, sem diferenciar continentes ou países. Nesse sentido, existe uma espécie de democratização geográfica da mudança climática. No entanto, os danos e efeitos que esses desastres provocam nas sociedades, claramente estão diferenciados por países, classe social e identificação racial. De maneira consecutiva, tivemos no período 2014-2016 os anos mais quentes desde 1880, o que explica a diminuição no ritmo de chuvas em muitas partes do planeta. Mesmo assim, os meios materiais disponíveis para suportar e remontar estas carências e, portanto, os efeitos sociais resultantes dos transtornos ambientais são abissalmente diferentes segundo o país e a condição social das pessoas afetadas. Por exemplo, diante da escassez de água na Califórnia, as pessoas se viram obrigadas a pagar até 100% mais pelo elemento líquido, ainda que isto não tenha afetado seu regime de vida. Ao contrário, no caso da Amazônia e as regiões de altura do continente latino-americano, houve uma dramática redução do acesso aos recursos hídricos para as famílias indígenas, provocando más colheitas, restrição ao consumo humano de água e – especialmente na Amazônia – paralisia de grande parte da capacidade produtiva extrativa com a qual as famílias garantiam seu sustento anual.
Além disso, a passagem do Furacão Katrina pela cidade de Nova Orleans, em 2005, deixou mais de 2.000 mortos, milhares de desaparecidos e um milhão de pessoas deslocadas. Mas, os efeitos do furacão não foram os mesmos para todas as classes e identidades étnicas. Segundo o sociólogo P. Sharkey [1], 68% das pessoas mortas e 84% das desaparecidas eram de origem afro-americana. Isso, porque nas regiões propensas a ser inundadas, onde o valor da terra é menor, vivem as pessoas com menos recursos; ao passo que aqueles que habitam as regiões altas são os ricos e brancos.
Neste e em todos os casos, a vulnerabilidade e o sofrimento se concentram nos mais pobres (indígenas e negros), ou seja, nas classes e identidades socialmente subalternas. Daí que se possa falar de um enclassamento e racialização dos efeitos da mudança climática.
Então, os meios disponíveis para uma resiliência ecológica diante das mudanças ambientais dependem da condição socioeconômica do país e dos ingressos monetários das pessoas afetadas. E, dado que estes recursos estão concentrados nos países com as economias dominantes em escala planetária e nas classes privilegiadas, resulta que elas são as primeiras e únicas capazes de suportar e diminuir em sua vida esses impactos, comprando casas em regiões com condições ambientais sadias, tendo acesso a tecnologias preventivas, dispondo de um maior gasto para o acesso a bens de consumo imprescindíveis, etc. Ao contrário, os países mais pobres e as classes sociais mais vulneráveis tendem a ocupar espaços com condições ambientais frágeis ou degradadas, carecem de meios para aceder a tecnologias preventivas e são incapazes de suportar variações substanciais nos preços dos bens imprescindíveis para sustentar suas condições de vida. Portanto, a democratização geográfica dos efeitos do aquecimento global se traduz, instantaneamente, em uma concentração nacional, classista e racial do sofrimento e do drama causados pelos efeitos climáticos.
Este enclassamento racializado do impacto ambiental se torna paradoxal e inclusive moralmente injusto quando se comparam os dados das populações afetadas e das populações causadoras ou de maior incidência em sua geração.
A nova etapa geológica do antropoceno – um conceito proposto pelo Prêmio Nobel de Química, P. Crutzen -, caracterizada pelo impacto do ser humano no ecossistema mundial, vem se efetivando desde a Revolução Industrial, em inícios do século XVIII. E, desde então, primeiro a Europa, depois os Estados Unidos, e em geral as economias capitalistas desenvolvidas e colonizadoras do norte são as principais emissoras dos gases do efeito estufa que estão causando as catástrofes climáticas. No entanto, os que sofrem os efeitos devastadores deste fenômeno são os países colonizados, subordinados e mais pobres, como os da África e América Latina, cuja incidência na emissão de CO2 é muitíssimo menor.
Segundo dados do Banco Mundial [2], Quênia contribui com 0,1% dos gases do efeito estufa, mas as secas provocadas pelo impacto do aquecimento global levam à fome mais de 10% de sua população. Ao contrário, nos Estados Unidos, que contribuem com 14,5%, a seca só provoca um maior custo no preço da água, deixando intactas as condições básicas de vida de seus cidadãos. Em média, um alemão emite 9,2 toneladas de CO2 por ano; enquanto que um habitante do Quênia, 0,3 toneladas. Não obstante, quem leva em suas costas o peso do impacto ambiental é o cidadão queniano e não o alemão.
Dados parecidos é possível obter comparando o grau de participação dos países do norte na emissão de gases do efeito estufa, como Holanda (10 TM por pessoa/ano), Japão (7 TM), Reino Unido (7,1 TM), Espanha (5 TM), França (8 TM), mas com alta resiliência ecológica; frente a países do sul com baixa participação na emissão de gases do efeito estufa, como Bolívia (1,8 TM), Paraguai (0,7 TM), Índia (1,5 TM), Zâmbia (0,2 TM), etc., mas atravessados por dramas sociais produzidos pela mudança climática. Existe, então, uma oligarquização territorial da produção dos gases do efeito estufa, uma democratização planetária dos efeitos do aquecimento global, e uma desigualdade classista e racial dos sofrimentos e efeitos dos sobressaltos ambientais.
Ambientalistas coloniais
Se a natureza comunica os impactos da ação humana em seu metabolismo de uma forma hierarquizada, também existem certos conceitos referentes ao meio ambiente, parcializados de uma maneira ainda mais escandalosa; ou, pior ainda, que legitimam e acobertam estas focalizações regionais, classistas e raciais.
Como destaca McGurty [3] para o caso norte-americano, nos anos 1970, o que tornou possível que o debate público sobre as demandas sociais das minorias étnicas urbanas e inclusive do movimento operário sindicalizado fosse deixado de lado, fazendo com que a “temática social” perdesse força de pressão frente ao governo, foi um tipo de discurso ambientalista. Uma nova linguagem acerca do meio ambiente, carregada de uma assepsia a respeito das demandas sociais, que certamente pôs sobre a mesa uma temática mais “universal”, mas com responsabilidades “atenuadas” e diluídas no planeta; ao mesmo tempo que distantes, política e ambientalmente, das problemáticas das identidades sociais (operários, população negra). Aspecto que não deixa de ser celebrado pelas grandes corporações e o governo que, assim, veem diminuir suas dívidas sociais com a população.
Por outro lado, o sociólogo francês Keucheyan [4] enfatiza como em certos países, como Estados Unidos, a “cor da ecologia não é verde, mas, sim, branca”; não só pela majoritária condição social dos ativistas – em geral, brancos, de classe média e alta -, mas também pela negativa de suas grandes fundações em se envolver em temáticas ambientais urbanas que afetam diretamente os pobres e as minorias raciais. Aparentemente, a natureza que vale a pena salvar e proteger não é “toda” a natureza – da qual as sociedades são uma parte fundamental -, mas somente aquela natureza “selvagem” que se encontra esterilizada de pobres, negros, camponeses, operários, latinos e índios, com suas incômodas problemáticas sociais e trabalhistas.
Tudo isso reflete, pois, a construção de uma ideia enviesada de natureza de classe, associada a uma pureza original contraposta à cidade, que simboliza a degradação. Assim, para estes ambientalistas, as cidades são sujas, caóticas, obscuras, problemáticas e cheia de pobres, operários, latinos e negros, ao passo que a natureza a proteger é imaculada e aprazível, o santuário imprescindível onde as classes abastadas, que dispõem de tempo e dinheiro para isso, podem experimentar sua autenticidade e superioridade.
Nos países subalternos, as construções discursivas dominantes sobre a natureza e meio ambiente compartilham esse caráter elitista e dissociado da problemática social, ainda que incorporem outros três componentes de classe e de relações de poder.
Em primeiro lugar, encontra-se o estado de autoculpabilização ambiental. Isso quer dizer que a responsabilidade frente ao aquecimento global é distribuída de maneira homogênea no mundo. Portanto, cortar uma árvore para semear alimentos tem tanta incidência na mudança climática como instalar uma usina atômica para gerar eletricidade. E como na maioria dos países subalternos existe uma urgente necessidade de utilizar os recursos naturais para aumentar a produção de alimentos ou obter divisas a fim de aceder a tecnologias e superar as precárias condições de vida herdadas após séculos de colonialidade, então, para estas correntes ambientalistas, os maiores responsáveis pelo aquecimento global são estes países pobres que depredam a natureza. Não importa que sua contribuição à emissão de gases do efeito estufa seja de 0,1% ou que o impacto dos milhões de carros e milhares de fábricas dos países do norte afete 50 ou 100 vezes mais a mudança climática. Surge, assim, uma espécie de naturalização da ação antiecológica da economia dos países ricos, de seus consumos e de sua forma de vida cotidiana que, na realidade, são as causadoras históricas das atuais catástrofes naturais. Dita esquizofrenia ambiental chega a tais extremos que se diz que a recente seca na Amazônia é responsabilidade de algumas centenas de camponeses e indígenas que habilitam suas parcelas familiares para cultivar produtos alimentícios e não, por exemplo, do incessante consumo de combustíveis fósseis que, em 95%, provêm de uma vintena de países do norte, altamente industrializados.
A financeirização da mais-valia ambiental
Um segundo componente desta construção discursiva de classe é uma espécie de “financeirização ambiental”. Nos países capitalistas desenvolvidos surgiu uma economia de seguros, expansiva e altamente lucrativa, que protege empresas, multinacionais, governos e pessoas de possíveis catástrofes ambientais. Assim, o desastre ambiental se tornou um lucrativo e ascendente negócio de seguradoras e resseguros que protegem os investimentos de grandes empresas, não só da crise política, como também de cataclismos naturais, mediante um mercado de “bônus catástrofe” [5], tornando o capital “resiliente” ao aquecimento global. Paralelamente a isso, nos países subalternos emerge um amplo mercado de empresas de transferência, no que temos denominado mais-valia ambiental.
Através de algumas fundações e ONGs, as grandes multinacionais do norte financiam, nos países pobres, políticas de proteção de matas. Tudo, em troca dos Certificados de Emissão Reduzida (CER) [6] que se negociam nos mercados de carbono. Desta maneira, por uma tonelada de CO2 que se deixa de emitir em uma mata da Amazônia, graças a alguns milhares de dólares entregues a uma ONG que impede seu uso agrícola, uma indústria norte-americana ou alemã de armas, automóveis ou aço, que utiliza como fonte energética o carvão e emite gases do efeito estufa, pode manter inalterável sua atividade produtiva sem necessidade de mudar de matriz energética ou de reduzir sua emissão de gases, nem muito menos parar a produção de suas mercadorias ambientalmente depredadoras. Em outras palavras, em troca de 100.000 dólares investidos em uma distante mata do sul, a empresa pode ganhar e economizar centenas de milhares de dólares, mantendo a lógica de consumo destrutiva inalterada.
Assim, hoje o capitalismo depreda a natureza e eleva as taxas de lucro empresarial. Converte a poluição em um direito negociável na bolsa de valores. Faz das catástrofes ambientais provocadas pela produção capitalista, uma contingência sujeita a um mercado de seguros. E, finalmente, transforma a defesa da ecologia nos países do sul em um rentável mercado de bônus de carbono concentrado pelas grandes empresas e países poluidores. Em definitivo, o capitalismo esta subsumindo de maneira formal e real a natureza, tanto em sua capacidade criativa, como no mesmíssimo processo de sua própria destruição.
Por último, o colonialismo ambiental assume de seu alter ego do norte o divórcio entre natureza e sociedade, com uma variante. Enquanto o ambientalismo dominante do norte propugna uma contemplação da natureza purificada de seres humanos – sua política de extermínio de indígenas lhe permite esse excesso -, o ambientalismo colonizado, pela força dos fatos, vê-se obrigado a incorporar neste tipo de natureza idealizada os indígenas que inevitavelmente habitam nas matas. Mas, não qualquer indígena, pois, para eles, aquele que cultiva a terra para vender nos mercados, que reivindica um colégio, hospital, estrada ou os mesmos direitos que qualquer citadino, não é um verdadeiro, mas, sim, falso indígena, um indígena “pela metade”, em processo de campenização, de mestiçagem; portanto, um indígena “impuro”. Para o ambientalismo colonial, o indígena “verdadeiro” é um ser carente de necessidades sociais, quase camuflado com a natureza; esse indígena fóssil do postal dos turistas que vêm em busca de uma suposta “autenticidade”, esquecendo que ela não é mais que um produto de século de colonização e despojo dos povos da mata.
Em síntese, não há nada mais intensamente político que a natureza, a gestão e os discursos que se tecem ao redor dela. O lamentável é que nesse campo de forças, as políticas dominantes sejam, até agora, simplesmente as políticas das classes dominantes. Por isso, ainda são longos o caminho e a luta que permitam o surgimento de uma política ambiental que, no momento de fundir temáticas sociais e ecológicas, projete uma visão protetora da natureza a partir da perspectiva das classes subalternas, naquilo que, alguma vez, Marx denominou uma ação metabólica mutuamente vivificante entre ser humano e natureza [7].
Notas
[1] P. Sharkey, “Survival and death un New Orleans: an empirical look at the human impact of Katrina”, em Journal of Black Studies, 2007; 37; 482. Em: http://www.patricksharkey.net/images/pdf/Sharkey_JBS_2007.pdf.
[2] Databank-Banco Mundial 2013.
[3] E. McGurty, Transforming Environmentalism, Rutgers University Press, New Brunswick, 2007.
[4] R. Keucheyan, La naturaleza es un campo de batalla, Clave Intelectual, España, 2016.
[5] Banco Mundial, “ Seguro contra riesgo de desastres naturales: Nueva plataforma de emisión de bonos de catástrofes”. Em: http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2009/10/28/insuring-against-natural-disaster-risk-new-catastrophe-bond-issuance-platform.
[6] BID/ BALCOLDEX, “Guía en Cambio Climático y Mercados de Carbono”. Em: https://www.bancoldex.com/documentos/3810_Guia_en_cambio_clim%C3%A1tico_y_mercados_de_carbono.pdf
[7] Marx, El Capital, Tomo III; Ed. Siglo XXI, pág. 1044, México, 1980.
O artigo é escrito por Álvaro García Linera, publicado por Rebelión. A tradução é do Cepat.