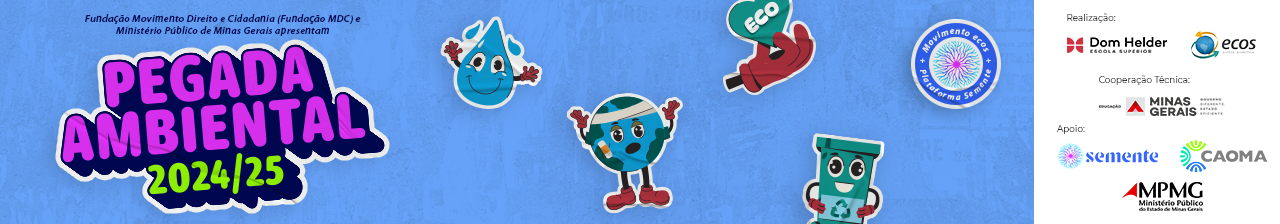Em O problema dos três corpos, obra mestre de ficção científica de Liu Cixin e primeira parte da trilogia Remembrance of Earth’s Past (A lembrança do passado da Terra), um cientista é atraído para um jogo de realidade virtual. “Três Corpos” no qual os participantes se encontram em um planeta alienígena, Trisolaris, cujos três sóis se elevam e se colocam em intervalos estranhos e imprevisíveis: às vezes, muito distantes e horrivelmente frios, às vezes, muito próximos e destrutivamente quentes e, às vezes, não visíveis durante longos períodos de tempo. De alguma forma, os jogadores podem desidratar a si mesmos e ao restante da população para enfrentar as piores temporadas, mas a vida é uma luta constante contra elementos aparentemente imprevisíveis.
Apesar disso, os jogadores lentamente encontram formas de construir civilizações e tentar prever os estranhos ciclos de calor e frio. Após estabelecer o contato entre as duas civilizações, nossa Terra aparece para os trisolaris desesperados como um mundo ideal de ordem e decidem invadi-la para que sua raça sobreviva.
Esta oposição entre a Terra e Trisolaris faz eco da oposição entre a tradicional visão confuciana do Céu, como o princípio da ordem cósmica, e o elogio de Mao ao Céu desordenado: a vida caótica em Trisolaris, onde o próprio ritmo das estações é perturbado, é uma versão naturalizada do caos da Revolução Cultural? A visão aterradora de que “não há física”, não há leis naturais estáveis, conduz muitos cientistas ao suicídio (no romance). Não estamos nos aproximando de algo semelhante, hoje?
A própria natureza está cada vez mais em desordem, não porque abisma nossas capacidades cognitivas, mas principalmente porque não somos capazes de dominar os efeitos de nossas próprias intervenções em seu curso. Quem sabe quais serão as consequências finais de nossa engenharia biogenética ou do aquecimento global? A surpresa vem de nós mesmos. Trata-se da opacidade de como nós mesmos nos encaixamos na imagem: a mancha impenetrável na imagem não é um mistério cósmico como uma misteriosa explosão de uma supernova. A mancha somos nós mesmos, nossa atividade coletiva. “Há uma grande desordem no real”.
É assim que Jacques-Alain Miller caracteriza o modo como a realidade se apresenta em nosso tempo, no qual experimentamos o impacto completo de dois agentes fundamentais: a ciência moderna e o capitalismo. A natureza como o real, na qual tudo, desde as estrelas até o sol, sempre volta ao seu lugar, como o reino de grandes ciclos confiáveis e de leis estáveis que os regulam, está sendo substituída por um contingente completamente real. Real que está permanentemente revolucionando suas próprias regras, real que resiste qualquer inclusão em um Mundo totalizado (universo de significado).
Como devemos reagir a esta constelação? Devemos assumir um enfoque defensivo e buscar um novo limite, um retorno a (ou, ao contrário, a invenção de) algum novo equilíbrio? Isto é o que a ecologia e a bioética predominantes procuram fazer em relação à biotecnologia, por isso, as duas formam uma dupla: a biotecnologia busca novas possibilidades de intervenções científicas (manipulações genéticas, clonagem…) e a bioética se esforça para impor limitações morais ao que a biotecnologia nos permite fazer. Sendo assim, a bioética não é inerente à prática científica. Ela intervém nesta prática de fora, impondo-lhe uma moral externa. Inclusive, é possível dizer que a bioética é a traição da ética imanente ao esforço científico, a ética de “não comprometer seu desejo científico, seguir inexoravelmente seu caminho”.
Podemos, então, usar o próprio capitalismo contra esta ameaça? Ainda que o capitalismo possa facilmente tornar a ecologia um novo campo do investimento e da concorrência, a própria natureza do risco envolvido exclui fundamentalmente uma solução de mercado. Por quê? O capitalismo só funciona em condições sociais precisas: implica a confiança no mecanismo objetivado da “mão invisível” do mercado que, como uma espécie de Astúcia da Razão, garante que a concorrência dos egoísmos individuais funcione para o bem comum.
No entanto, estamos em meio a uma mudança radical. Até agora, a Substância histórica desempenhou seu papel de meio e fundamento de todas as intervenções subjetivas. O que os sujeitos sociais e políticos fizeram foi mediado e, finalmente, dominado, sobredeterminado, pela Substância histórica. O que hoje se vislumbra no horizonte é a inédita possibilidade de que uma intervenção subjetiva intervenha diretamente na Substância histórica, perturbando seu caminho no desencadeamento de uma catástrofe ecológica, uma fatídica mutação biogenética, uma catástrofe militar-social nuclear ou similar, etc.
Já não podemos confiar no papel de salvaguarda do limitado alcance de nossos atos. Não se sustenta mais que, façamos o que façamos, a história continuará. Pela primeira vez na história da humanidade, o ato de um só agente sociopolítico pode alterar e, inclusive, interromper o processo histórico global.
Jean-Pierre Dupuy se refere, aqui, à teoria de sistemas complexos que explica as duas características opostas de tais sistemas: seu caráter robusto e estável e sua extrema vulnerabilidade. Estes sistemas podem se acomodar a grandes perturbações, integrá-las e encontrar um novo equilíbrio e estabilidade até um certo limite (um “ponto de inflexão”) acima do qual uma pequena perturbação pode causar uma catástrofe total e conduzir ao estabelecimento de uma ordem totalmente diferente.
Durante longos séculos, a humanidade não teve que se preocupar com o impacto de sua atividade produtiva no meio ambiente. A natureza foi capaz de se acomodar ao desmatamento, ao uso do carvão e do petróleo, etc. No entanto, não é possível estar seguro se, hoje, não estamos nos aproximando de um ponto de inflexão. De fato, não é possível estar seguro, já que tais pontos podem ser claramente percebidos apenas uma vez, quando for muito tarde, de modo retrospectivo.
A propósito da urgência de se fazer algo a respeito da ameaça atual de diferentes catástrofes ecológicas: ou bem levamos esta ameaça a sério e decidimos fazer hoje coisas que, caso a catástrofe não ocorra, parecerão ridículas, ou não fazemos nada e perdemos tudo no caso da catástrofe, sendo o pior dos casos a escolha de um meio termo, de tomar uma quantidade limitada de medidas. Neste caso, vamos fracassar, haja o que houver (ou seja, o problema é que não há meio termo em relação à catástrofe ecológica: ou bem ocorrerá ou não ocorrerá).
Em tal situação, a conversa a respeito da antecipação, da precaução e do controle dos riscos tende a não ter sentido, já que estamos tratando de, nos termos da teoria do conhecimento de Rumsfeld (ex-secretário de Defesa dos Estados Unidos), “fatos desconhecidos, que desconhecemos”. Não só não sabemos onde está o ponto de inflexão, como também não sabemos exatamente o que não sabemos. (O aspecto mais inquietante da crise ecológica se refere ao chamado “conhecimento no real”, que pode se comportar de maneira perigosa: quando o inverno é muito quente, as plantas e os animais interpretam erroneamente o clima quente, em fevereiro, como sinal de que já chegou a primavera e se comportam como tal, não só se tornando vulneráveis aos últimos ataques de frio, como também perturbando todo o ritmo da reprodução natural).
É por isso que há algo enganosamente reconfortante na disposição dos teóricos do antropoceno em assumir a culpa pelas ameaças ao nosso meio ambiente. Agrada-nos sermos os responsáveis já que, se somos culpados, então tudo depende de nós, movimentamos as linhas da catástrofe, desse modo, também podemos nos salvar simplesmente mudando nossas vidas.
Realmente, o que é difícil para nós aceitarmos (ao menos para nós no Ocidente) é que estamos reduzidos a um papel puramente passivo de um observador impotente, que só pode se sentar e ver qual será o seu destino – para evitar tal situação, somos propensos a participar de uma frenética atividade obsessiva, reciclar papel velho, comprar alimentos orgânicos, qualquer coisa, só para que possamos estar seguros de que estamos fazendo algo, contribuindo em algo –, assim como um apaixonado por futebol, que apoia a sua equipe em frente a uma televisão, com uma crença supersticiosa de que isto, de alguma maneira, influenciará no resultado…
O certo é que a típica forma de dissuasão fetichista em relação à ecologia é: “Sei muito bem (que todos estamos ameaçados), mas realmente não acredito, de modo que não estou disposto a fazer algo realmente importante, como mudar minha forma de vida”. Contudo, também existe uma forma oposta de desautorização: “Eu sei muito bem que realmente não posso influenciar no processo que pode conduzir à minha ruína (como uma explosão vulcânica), mas é, no entanto, muito traumático aceitar que não posso resistir ao impulso de fazer algo, ainda que saiba que, em última instância, não faz sentido…”.
Não é pela mesma razão que compramos alimentos orgânicos? Quem acredita realmente que as maçãs “orgânicas” meio podres e caras são realmente mais saudáveis? A questão é que ao comprá-las, não apenas compramos e consumimos um produto, simultaneamente fazemos algo significativo, mostramos nossa atenção e consciência global, participamos de um grande projeto coletivo.
Os céticos gostam de destacar o limite de nosso conhecimento sobre o que acontece na natureza, no entanto, esta limitação não implica, de forma alguma, que não devamos exagerar a ameaça ecológica. Ao contrário, devemos ser ainda mais cuidadosos, já que a situação é profundamente imprevisível. As recentes incertezas sobre o aquecimento global não assinalam que as coisas não são muito sérias, mas que são ainda mais caóticas do que pensávamos, e que os fatores naturais e sociais estão indissoluvelmente ligados.
Sendo assim, não é somente a continuidade da História que está ameaçada hoje em dia, o que estamos presenciando é algo como o fim da própria Natureza. Os devastadores furacões, as secas e as inundações, para não falar do aquecimento global, não apontam que estamos sendo testemunhas de algo cujo único nome apropriado é “o fim da Natureza”? Aqui, “natureza” deve ser entendida no sentido tradicional de um ritmo regular das estações, o fundo confiável da história humana, algo que podemos contar que sempre estará ali. Quando já não podemos depender dela, entramos no que chamamos “antropoceno”: uma nova época na vida de nosso planeta na qual nós, os humanos, já não podemos confiar na Terra como um reservatório disposto a absorver as consequências de nossa atividade produtiva.
Inclusive, nós (a humanidade) nos concebemos como heróis Prometeus impondo nossa vontade à natureza, transformando-a para além do reconhecimento, ainda confiamos nela como a tábua de nossa atividade, que de alguma maneira absorverá os efeitos secundários (dano colateral) de nossa produtividade.
Hoje em dia, no entanto, temos que aceitar que vivemos em uma “Terra da Nave Espacial”, responsável por suas condições. A Terra já não é o fundo impenetrável de nossa atividade produtiva, mas, ao contrário, surge como um (outro) objeto finito que podemos destruir ou transformar inadvertidamente, tornando-a inviável. Isto significa que no exato momento em que somos suficientemente poderosos para afetar as condições mais básicas de nossa vida, temos que aceitar que somos simplesmente outra espécie animal, em um planeta pequeno.
Uma vez que nos damos conta disso, é necessária uma nova maneira de nos relacionarmos com o nosso meio ambiente. Já não deveríamos atuar como um heroico trabalhador expressando suas potencialidades criativas e usando os recursos inesgotáveis de seu meio ambiente, mas, muito pelo contrário, como um modesto agente colaborando com o seu meio ambiente, negociando permanentemente um nível tolerável de segurança e estabilidade, sem uma fórmula a priori que garanta nossa segurança.
É difícil para um forasteiro imaginar como se sente quando um vasto domínio de terra densamente povoada desaparece sob a água, de modo que milhões ficam privados das coordenadas básicas de seu mundo de vida. A terra com seus campos, mas também com os monumentos culturais que eram a matéria de seus sonhos, já não estão ali, de modo que, mesmo que em meio a água, são como peixes fora da água. É como se o meio ambiente que milhares de gerações tomavam como a fundação óbvia de suas vidas começasse a rachar.
É claro, tornaram-se conhecidas catástrofes semelhantes durante séculos, algumas inclusive na própria pré-história da humanidade. O que é novo hoje em dia é que, como vivemos em uma era pós-religiosa “desencantada”, tais catástrofes já não podem ser interpretadas como parte de um ciclo natural mais amplo ou como uma expressão da ira divina. Elas são interpretadas muito mais diretamente como intrusões sem sentido de uma raiva destruidora que não possui uma causa clara: as inundações causadas pelo Irma são acontecimentos naturais ou os produtos da indústria humana?
As duas dimensões estão inextrincavelmente misturadas, privando-nos da segurança básica de que, apesar de todas as nossas confusões, a Natureza continua em seus eternos ciclos de vida e morte. Foi assim que, em 1906, William James descreveu sua reação diante de um terremoto: “A emoção consistiu em alegria e admiração. Alegria diante da vivacidade que tal ideia abstrata como “terremoto” pode ter quando verificada concretamente, e se traduz em realidade sensata e admiração por como a frágil cabana de madeira conseguiu ficar em pé apesar da sacudida. Não senti nenhum pouco de medo; era puro deleite bem recebido”. Que distante estamos da sacudida da própria fundação da vida do mundo!
Portanto, a principal lição que é preciso aprender é que a humanidade deve se preparar para viver de uma maneira mais plástica e nômade. As mudanças locais ou globais no meio ambiente podem impor a necessidade de transformações sociais inauditas em grande escala. Digamos que uma gigantesca erupção vulcânica tornará inabitável toda a Ilha. Para onde se mudarão os habitantes da Ilha? Sob quais condições? Deveriam receber um pedaço de terra ou simplesmente estar dispersos ao redor do mundo? O que acontecerá se a Sibéria setentrional se tornar mais habitável e apropriada para a agricultura, ao passo que as grandes regiões subsaarianas se tornem secas para que uma grande população viva ali? Como se organizará o intercâmbio de população?
Quando ocorreram coisas semelhantes no passado, as mudanças sociais aconteceram de maneira espontânea e selvagem, com violência e destruição. Tal perspectiva é catastrófica nas condições de hoje, com armas de destruição massiva disponíveis para todas as nações. Uma coisa é clara: a soberania nacional terá que ser redefinida radicalmente e será necessário inventar novos níveis de cooperação global. E o que acontece com as imensas mudanças na economia e o consumo devido aos novos padrões climáticos ou a escassez de água e fontes de energia? Através de que processos de elaboração se decidirão e executarão tais mudanças?
Escrito pelo filósofo esloveno Slavoj Zizek. O artigo foi publicado por Página/12. A tradução é do Cepat.