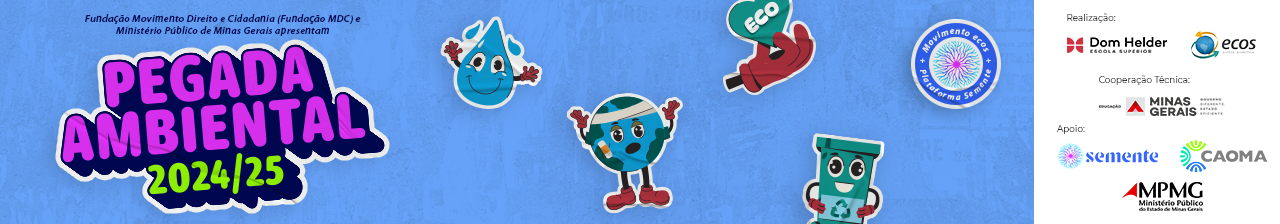Em um dos locais mais simbólicos da tragédia de Brumadinho – onde o pontilhão da ferrovia sobre o Córrego do Feijão foi rompido ao meio pela força da onda de lama de rejeitos da Vale e o que restou é uma terra arrasada que mais lembra um cenário de guerra -, os passarinhos ainda cantam. Ali já não existem mais peixes. Nas bordas tampouco se sentem os insetos. Mas quatro, cinco, meia dúzia de espécies de aves – encarapitadas na mata que testemunhou o desastre – ainda cantarolam como se a natureza não tivesse sido alterada.
O cenário foi observado pela reportagem neste e em outros pontos ao longo do curso do Rio Paraopeba de quinta-feira a domingo. Pode ser apenas uma questão de tempo, porém, para que tudo ali silencie. Foi assim há cerca de três anos na Bacia do Rio Doce, atingida pelo rompimento da barragem da Samarco, em Mariana. A morte do rio é a consequência imediata do desastre ambiental. Algum tempo depois, outros bichos vão desaparecendo ou migrando para outras regiões.
“Um ano depois do desastre, não se ouvia mais nada. A gente via aves com o papo vazio, morrendo de fome. Aqui pode ser que ocorra algo semelhante. Espero estar errada”, comenta a bióloga Marta Marcondes, pesquisadora da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, enquanto monitora com sondas e outros instrumentos indicadores como o nível de oxigenação, em um ponto a cerca de 80 km de Brumadinho. Marta acompanha uma expedição da Fundação SOS Mata Atlântica, que começou na quinta-feira a monitorar a qualidade da água em diversos trechos do rio, seguindo seu rumo em direção ao encontro do São Francisco, por 356 quilômetros.
O trabalho partiu do chamado “marco zero”, um ponto imediatamente anterior ao local onde a onda de rejeitos que desceu na barragem rompida encontrou o Paraopeba. Ali a água não estava tomada pela lama, mas já começava a ficar comprometida, com nível ruim. Uma medida anterior ao acidente dava o local como regular. Quase todos os demais pontos analisados, porém, já apareciam como péssimos, com exceção de apenas dois locais. A reportagem acompanhou a expedição até a altura de Juatuba e se deparou o tempo todo com uma imagem marrom-avermelhada, densa, que em nada se parece com um rio que possa suportar alguma vida. Nas palavras de Malu Ribeiro, coordenadora do projeto, a água virou uma espécie de chocolate derretido ou ferro líquido.
Em um dos poucos pontos em que a qualidade foi identificada como ruim, em Juatuba, a equipe chegou a se empolgar com a presença de alevinos e alguns insetos. Parecia que a vida não tinha sido tão afetada. Mas foi uma falsa impressão. Nas margens do rio, nascentes limpas protegidas por uma fina faixa de mata ciliar serviam de proteção aos bichos. Mas no meio do corpo d’água, os indicadores não deixavam dúvida. “A turbidez está em 5.510, quando o máximo aceitável é 100. Não tem como chegar luz, não tem como ter vida”, afirmou Malu diante dos resultados.

Malu Ribeiro coleta amostra de água do Rio Paraopeba para análise.
Foto: Gaspar Nóbrega/ Fundação SOS Mata Atlântica
Peixe podre
Em um outro ponto, no município de São Joaquim de Bicas, onde vive um grupo indígena “desgarrado” dos Pataxós da Bahia, o cheiro de peixe podre prenuncia metros antes o cenário de devastação. “A meu ver, isso aqui não é lama, rejeito, nada, é sangue”, disse, chorando, a agricultora familiar Antonia Aguilar Santos, de 61 anos, em alusão às 121 vítimas do desastre. “Este rio significava muito. É onde a gente toma banho no calor. No almoço de domingo, quando os amigos vêm visitar, descia com as comidas para a beira do rio e ficávamos lá. Fora a pesca…”
Tahhão, de 55 anos, que faz as vezes de guarda indígena, conta que o rio é fonte de peixes para a tribo. A prainha do local acabou se tornando um local de celebrações e já é considerada sagrada para eles, apesar de ocuparem a região há apenas dois anos. “É que sem água não existe vida, então virou sagrado para a gente”, conta, quando nos aproximamos do local. Pelos seus cálculos, uns 300 quilos de peixes mortos já foram retirados da região desde que o rio foi contaminado pela lama.
Preocupação
Em seus mais de 500 quilômetros, o Rio Paraopeba esconde mais de 120 espécies de peixes, agora ameaçadas pela lama. Como afluente do São Francisco, recebe muitos animais na piracema, período de reprodução dos peixes. “Algumas espécies podem se deslocar até 200 quilômetros”, explica o biólogo e consultor na área ambiental Carlos Bernardo Mascarenhas Alves.
A mancha de lama ainda seguia meio devagar pelo Paraopeba e os pesquisadores ainda não se arriscavam a dizer se vai mesmo chegar ao São Francisco, o maior temor do grupo. Mas nesta semana estão previstas pancadas de chuva todos os dias em Brumadinho e isso tende a acelerar o processo de dispersão.

Córrego do Feijão foi tomado pela lama que vazou da barragem da Vale em Brumadinho.
Foto: Gaspar Nóbrega/ Fundação SOS Mata Atlântica
Consumo
Por causa do rompimento da barragem em Brumadinho, o Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) já alertou que a água não deve ser usada para consumo, o que impede a pesca também. Em alguns trechos atingidos pela lama, os órgãos ambientais já verificaram quantidades de metais como manganês, ferro e mercúrio acima das aceitáveis.
Corpos
No sábado, dia 2, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) realizava um levantamento técnico da fauna no Rio Paraopeba, quando a equipe se deparou com duas vítimas. Os corpos estavam em uma área central de Brumadinho, presos em vegetações nas margens. A área fica a cerca de sete quilômetros de distância do local onde rompeu a barragem da mineradora Vale.
A Polícia Militar Ambiental de Betim registrou um boletim de ocorrência sobre os corpos, que seguiram para identificação. Até a noite de domingo, 3, o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais havia confirmado 121 mortos – 114 identificados – e 205 desaparecidos na tragédia. As buscas agora estão concentradas perto do Córrego do Feijão e, além de tropas mineiras, têm apoio da Força Nacional e de bombeiros militares paulistas.
Agência Estado