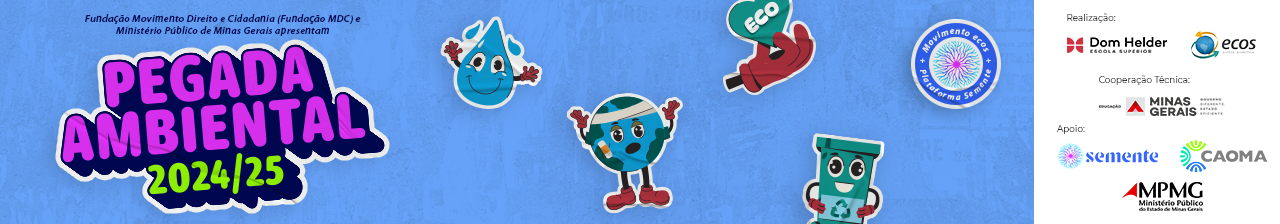Inovações, conexões, cultura: para Ana Carla Fonseca, especialista em economia criativa, essa é a receita para transformar nossas cidades em lugares melhores para viver

Mudar o futuro com ações e estratégias simples pautadas pela criatividade. Esse é o mote dos estudos desenvolvidos pela economista especializada em urbanismo Ana Carla Fonseca Reis há mais de uma década. Referência internacional quando se fala em economia criativa, ela organizou o livro Cidades Criativas – Perspectivas, reunindo 18 autores de 13 países com diferentes visões sobre como tornar nossas cidades lugares melhores para se viver (disponível para download gratuito no site Garimpo de Soluções), e se prepara para editar um volume dedicado ao impacto de eventos como a Copa e a Olímpiada nesse processo. Na entrevista abaixo, ela fala dos principais desafios para o Brasil entrar de vez nesse círculo virtuoso de transformações.
O QUE É UMA CIDADE CRIATIVA?
A busca do que caracteriza uma cidade criativa foi o que motivou este estudo. Deu para perceber que, em todos os capítulos, três características estavam sempre presentes: inovações, aqui entendidas como soluções para problemas, não apenas inovações tecnológicas; conexões: entre público e privado, local e global, entre a minha cidade e a vizinha, entre áreas da cidade; e, por fim, cultura – não só pelo que os romanos definiam como genius loci, que é o espírito do lugar, mas pelo que as artes, o entretenimento e o turismo cultural têm de impacto econômico e, fundamentalmente, por um ambiente que faça com que a cidade se torne um espaço mais propício à imaginação, à criatividade e à concretização disso em forma de inovação.
A Copa e a Olimpíada podem servir como catalisadores para tornar as cidades mais criativas?
É uma grande discussão: a gente vai usar os projetos a favor das cidades ou as cidades a favor dos projetos? Por enquanto, a gente está na pauta das cidades a favor dos projetos, a ponto de fazer um estádio em Itaquera em vez de recauchutar o Morumbi e desalojar um monte de gente com a suposta intenção de requalificar uma área marginalizada. A gente vê coisas acintosas como a história de decretar feriado em dia de jogo porque o país reconhece sua incompetência para suprir um transporte público de qualidade que dê conta da demanda.
Em outras cidades no mundo, eventos desse tipo trabalharam a favor?
É muito díspar. Barcelona virou um caso emblemático, mas eles têm uma tradição de usar grandes eventos como desculpa para se transformar: foi assim desde a Exposição Universal que eles abrigaram no século 19. Pegaram a Olimpíada justamente para ter soluções para questões que eles já queriam resolver. Quando você pega a África do Sul, que tem um perfil mais próximo do nosso, eles souberam construir infraestrutura, investir em transporte público, capacitar taxistas para receber turistas. Mas a Copa deixou uma conta para eles que, pelo que percebemos das pessoas de lá que contatamos, ficou muito maior que os aportes que vieram – especialmente no envolvimento da sociedade com o processo. Foi tudo muito em cima da infraestrutura. E esse problema a gente já está dando mostras de estar vivendo aqui.
Isso sempre pode acontecer quando se usa o turismo para transformar a cidade?
O turista de um grande evento é um turista muito heterogêneo. Não é necessariamente um turista de grandes bolsos. Se a gente pensar nisso, talvez consiga repensar a própria cidade, contemplando toda uma gama de cidadãos. O problema é quando se pensa só em um tipo de turista e, em geral é aquele que vem de avião, vai ficar nos hotéis mais caros, comer nos restaurantes mais caros, comprar quadros nas galerias mais caras… Fica tão em cima da elite do turismo, que todo mundo perde. O que precisa trabalhar melhor no turismo, a meu ver, é o turismo da demanda: que tipo de turista a gente quer? E aí, não estou nem falando do turista sexual em Fortaleza; estou falando dos nossos próprios turistas. De como transformar o cidadão em um turista da cidade.
Se quem vive na cidade conhecê-la melhor, criam-se conexões e também se desenvolve uma autoestima que faz com que a gente naturalmente queira cuidar melhor dela…
Claro, sem engajamento da população, a cidade não se transforma. Não se define por decreto que a cidade vai ser criativa, é uma coisa que vem de dentro para fora.
No livro, vocês falam da importância que alguns projetos de revitalização dão para grandes ícones. Algo como o que querem fazer na Nova Luz, em São Paulo, impondo um "complexo cultural" e causando problema para quem já está na região. Como você vê essa situação?
Quando a gente analisa grandes ícones, existem duas grandes estratégias que são comumente utilizadas. Uma delas é para coroar um processo, que é o caso do Museu Guggenheim de Bilbao. Ao longo das décadas de 80 e 90, desenvolveram um projeto em torno de Bilbao com 25 estratégias, como investimento na construção de metrô, levantamento de dados, capacitação das pessoas nas universidades. Quando as coisas estavam em ordem, colocaram um ícone para chamar a atenção do mundo – e mudar a imagem que se tinha da cidade, associada ao ETA. O caso da Tate Modern segue outra linha: um bairro complicado (a área do Bankside de Londres), com relações sociais que mereciam atenção maior e muitos espaços vazios, como a antiga estação elétrica que veio a abrigar a Tate. Durante cinco anos, houve um processo de envolvimento da sociedade civil. Estudos de impacto econômico mostram uma contribuição gigantesca da Tate para o PIB, para o surgimento de hotéis, restaurantes, ateliês, outras galerias e tudo o que existe na região agora. Foi um catalisador de mudança. Quando a gente traz isso para a Nova Luz, é exatamente o oposto. Aquela região é alvo de projetos de revitalização que vão mudando de nome há décadas. É uma região que, olhando de cima, tem um polo de tecnologia, um polo cultural de excelência, a área verde do Parque da Luz… É o filet mignon para se fazer uma série de coisas. O problema é como fazer. O processo ali foi completamente de cima para baixo. Nada foi discutido. Como é que você pode falar de criatividade, que pressupõe troca de ideias, se você não dá voz?
Peter Kageyama define cidade criativa como "um local que domou o carro". Isso no Brasil é muito difícil, porque nossas cidades foram concebidas para os carros. É possível mudar esse quadro?
Uma forma lapidar de conexão nas cidades é justamente a mobilidade das pessoas. Como é que ela vai se apropriar da cidade, se não consegue nem andar nela? Amsterdã há algumas décadas apresentava problemas como os nossos: excesso de veículos, acidentes de trânsito, pessoas morrendo por isso, falta de espaço para estacionamentos… Era completamente tomada por carros e hoje é referência em uso de ciclovias, espaços verdes e mobilidade. Bogotá, que vivia uma situação mais complicada que a nossa, fez investimentos em áreas verdes, ciclovias e no Transmilenio (um metrô de superfície inspirado no de Curitiba e aprimorado para o contexto deles) e mostrou que é possível uma capital com problemas de desigualdade se transformar. Que é possível, não tenho dúvidas. A dúvida que tenho é até que ponto isso é prioritário nas pautas de políticas públicas e nas reivindicações dos cidadãos. A gente comemora muito quando consegue inaugurar 10 km de ciclovia em São Paulo. Mas e daí? É o início de um processo ou é só um respiro? Os peritos em trânsito falam que não pode colocar numa mesma faixa, ou em faixas contíguas, três corpos de massa tão diferente como um ciclista, um carro e um ônibus. Vai dar problema, não tem como. Então, tem que investir não só em ciclovias, mas em formas alternativas de transporte, como o carro compartilhado. E outra coisa que mexe com mobilidade é segurança.
E segurança não é só ter polícia na rua. Quando o cidadão está na rua, ela se torna naturalmente mais segura para as outras pessoas…
Claro, isso é um grande problema nos centros das nossas cidades. Fica inseguro porque não tem gente e se não é seguro não tem gente circulando. E também tem que ter investimento em parques, em áreas verdes, em espaços públicos. O espaço público hoje é o espaço de ninguém, não é o espaço de todo mundo – a ponto de a molecada se encontrar em loja de conveniência de posto 24 horas para se divertir. As pessoas precisam tomar as ruas, mas elas só vão tomar as ruas se elas forem convidativas. Se forem seguras, se tiver espaço para sentar, se tiver uma sombrinha – porque uma praça sem árvore não funciona.
Foto: Reprodução
Fonte: Planeta Sustentável