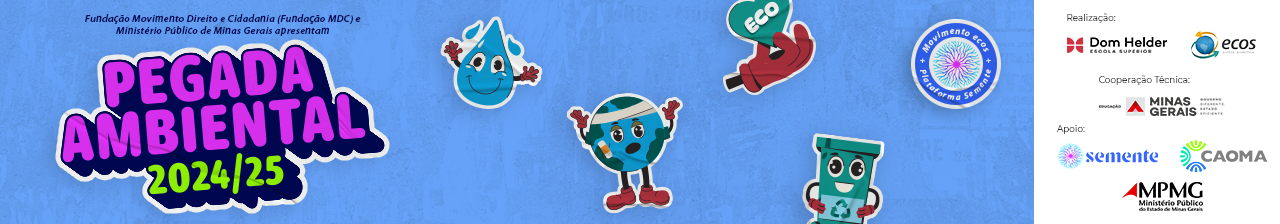"As terras indígenas, base de sustentação física e cultural de comunidades e povos, são atrativas em função de suas potencialidades para geração de energia hidráulica, exploração de minérios, expansão da agricultura", destaca o militante da causa indígena.
 |
| Imagem: www.controversia.com.br |
As lentes pelas quais os indígenas observam o mundo são incapazes de ver nas riquezas da natureza — o rio, a vegetação, os minérios — ativos financeiros. A terra não é apenas o espaço onde a atmosfera enche os pulmões e os pés tocam o solo, a terra é o elo entre o presente, o passado e aquilo que acreditam que será o futuro. “As terras indígenas, base de sustentação física e cultural de comunidades e povos, são atrativas em função de suas potencialidades para geração de energia hidráulica, exploração de minérios, expansão da agricultura — soja, milho, cana-de-açúcar — e da pecuária — criação de boi”, problematiza Roberto Liebgott, em entrevista por e-mail à IHU On-Line.
A esquerda, não somente no Brasil mas em todo o continente, repete a cartilha que vai dos conquistadores aos regimes autoritários e não vê nada diante do olhos que não seja dar continuidade a um projeto de financeirização de tudo, inclusive das vidas humanas. “Aqueles que governaram ou governam o país há quase duas décadas ignoram os direitos dos povos indígenas e quilombolas. Na prática, são levados a pensar o Brasil a partir de conceitos e concepções que reconhecem as diferenças dentro de uma lógica mercantil”, critica. “O bem-viver indígena não pode ser conquistado sem que haja uma radical mudança nas concepções e políticas destes tempos em que vivemos. E não se trata de construir o bem-viver para os indígenas, e sim de permitir que as concepções indígenas permeiem e reconfigurem as prioridades que temos assumido e as formas como temos lidado com o ser humano, com a terra, lugar comum sem o qual não temos futuro, nem esperança”, completa.
Roberto Liebgott é coordenador do Conselho Indigenista Missionário – Cimi-Sul.
Confira a entrevista.
 |
| Foto: www2.al.rs.gov.br |
IHU On-Line – No contexto histórico, como avalia a política indigenista brasileira?
Roberto Liebgott – Uma das primeiras manifestações oficiais a respeito dos “habitantes das novas terras” foi feita pela Igreja Católica. Portugal necessitava de um posicionamento da Igreja sobre a possibilidade de submeter (ou não) à escravidão os seres “descobertos”. O Papa Paulo III, no ano de 1537, emitiu uma bula intitulada a “Sublimus Dei”, na qual reconhece que os “índios” seriam pessoas capazes de receber a fé católica.
Faço referência a este documento do século XVI para demonstrar que a “questão dos índios” já se colocava nos primeiros momentos da invasão europeia. Lá, naquele período, interesses coloniais sobre os corpos indígenas (a serem submetidos à escravidão) confrontavam-se com interesses sobre suas almas (a serem convertidas à fé cristã). A resposta do Papa confirma o anseio da Igreja para torná-los “cristãos” e, ao mesmo tempo, afirma a necessidade de assegurar-lhes a liberdade e a posse de sua propriedade. As três preocupações centrais manifestadas pela Igreja/Estado — almas convertidas, liberdade e propriedade — colidem com as expectativas coloniais que ao longo dos séculos teve como características principais a escravização, a exploração, a conquista, o domínio e o extermínio. Esses processos ligam-se ao domínio sobre os povos originários e sobre suas terras. As disputas territoriais vêm se processando ao longo destes mais de cinco séculos, através de diferentes meios e estratégias, com efeitos devastadores sobre as comunidades e povos indígenas.
Século XX
Já em um contexto mais recente, vemos que a política indigenista constituída no início do século XX sustentou-se na identificação dos “grupos indígenas” para promover sua remoção e confinamento em reservas que seriam criadas pelo Estado. Esta política de remoção estendeu-se nas décadas seguintes, alicerçada em um duplo objetivo: integrar os índios à comunhão nacional e entregar suas terras aos projetos de expansão econômica — para a construção de rodovias, ferrovias, hidrelétricas, para a instalação de mineradoras, madeireiras e a promoção da agricultura e pecuária. A remoção dos povos indígenas de suas terras tradicionais foi considerada fundamental para a implementação do projeto de integração nacional, pois se constatava que os “ditos índios” — como referiu o Papa Paulo III em 1537 — não estavam extintos e sua permanência nas terras seria um obstáculo para a sua exploração.
Remoções
As remoções consistiram em atos violentos e geraram um vergonhoso quadro de atrocidades — algumas delas estão registradas, por exemplo, no Relatório Figueiredo [1]. A política assimilacionista, claramente estabelecida noEstatuto do Índio (Lei 6.001/1973) felizmente foi superada na Constituição Federal de 1988, especialmente através da presença expressiva dos índios durante os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte. A atual Constituição redefine as relações do Estado com os povos indígenas: de tutelados, estes passam à condição de sujeitos de direitos individuais e coletivos. A Constituição reconhece também o pluralismo étnico e cultural e assegura aos índios o direito originário sobre as terras que tradicionalmente ocupam, cabendo ao Estado demarcá-las.
Contudo, vale ressaltar que apesar dos avanços constitucionais, os governos das últimas décadas que administraram e administram o Estado negligenciam e negociam os direitos indígenas. Há em curso uma política enraizada em conceitos e concepções genocidas.
“Aqueles que governaram ou governam o país há quase duas décadas ignoram os direitos dos povos indígenas e quilombolas” |
|
IHU On-Line – Como a esquerda compreende a questão indígena no Brasil?
Roberto Liebgott – Em outra entrevista em que disse que a esquerda no poder era volátil [2] — eu me referia ao poder de governança e não ao poder de decidir sobre como governar — pensei na trajetória de uma esquerda que vinha sendo construída a partir dos anseios e necessidades de uma população empobrecida e sedenta por um país mais justo e democrático. Mas o governo petista — por meio do presidente Lula — ao subir na rampa do Palácio do Planalto tornou voláteis essas aspirações, distanciou-se das bases que sustentavam o “projeto democrático e popular” e aderiu aos programas e plataformas políticas originalmente forjadas nos partidos de extrema direita. Além disso, o governo se tornou instável, incerto, inconstante e volúvel. Assumia um discurso público de vínculo ao passado de lutas e militância, mas, na prática, as políticas, com exceção daquelas meramente assistencialistas e eleitoreiras, foram direcionadas para o mercado financeiro e ao desenvolvimentismo predatório — assim como ocorreu no período da colonização portuguesa.
Políticas Públicas
As políticas públicas, ao longo de décadas, foram quase que invariavelmente fundamentadas na exploração dos recursos da natureza e na concessão de benefícios e isenções ao grande capital. Como se isso não bastasse, concedeu às “empresas brasileiras”, especialmente às empreiteiras da construção civil (sendo a maioria delas estruturadas na ditadura militar), montantes extraordinários de recursos públicos, através do BNDES e da Petrobras. O projeto da esquerda se volatizava cada vez mais na medida em que o governo passava a investir nas chamadas “empresas brasileiras”, exportando-as para os países mais pobres da América do Sul (Bolívia, Venezuela, Cuba) e da África. Hoje os governos “de esquerda” encontram-se “de joelhos” diante do sistema financeiro e de uma estrutura e sistema político alicerçado na corrupção.
Cegueira
A tal “esquerda” não conseguiu enxergar as diferenças étnicas e culturais no Brasil. E aqueles que governaram ou governam o país há quase duas décadas ignoram os direitos dos povos indígenas e quilombolas. Na prática, são levados a pensar o Brasil a partir de conceitos e concepções que reconhecem as diferenças dentro de uma lógica mercantil, sem, contudo, considerar seus direitos políticos e territoriais quando estes se confrontam com o modelo desenvolvimentista.
IHU On-Line – Em que medida os Poderes Legislativo e Judiciário entendem a questão indígena? Como tal entendimento fica evidenciado nas decisões tomadas?
Roberto Liebgott – Em minha opinião o Poder Legislativo de nosso país é um mercado livre, e os governantes devem submeter-se à tabela de preços imposta por este mercado. Cada projeto de lei é negociado de acordo com seu valor mercadológico. Nada passa sem que se obtenham dividendos financeiros. Não se exerce um mandato em torno de ideias e plataformas políticas, ao contrário, o eleito a qualquer das Câmaras Legislativas — estadual, municipal, federal — e ao Senado age de acordo com os dividendos a serem obtidos. As minorias, que exercem mandato de forma digna, acabam desprezadas e suas propostas rejeitadas.
Os povos indígenas, assim como a maioria da população brasileira, são vítimas deste sistema político no qual prevalecem os interesses econômicos e as pressões de setores que supostamente comandam a economia nacional, em detrimento dos direitos individuais e coletivos. Tudo, neste sistema, se converte em negócio e mercadoria. As terras indígenas, base de sustentação física e cultural de comunidades e povos, são atrativas em função de suas potencialidades para geração de energia hidráulica, exploração de minérios, expansão da agricultura — soja, milho, cana-de-açúcar — e da pecuária — criação de boi. As terras agricultáveis são visadas exatamente porque são entendidas como recurso para a expansão da produção de grãos e de carne.
Aniquilação
Neste contexto, os direitos indígenas vêm sendo confrontados, pois eles constituem como entraves, no entendimento dos setores dominantes, e os próprios índios são para eles um “problema”, na medida em que atrapalham os planos de expansão produtiva e de um suposto desenvolvimento econômico. Dobrando-se a uma concepção desenvolvimentista, o governo federal tomou a decisão de paralisar as demarcações das terras reivindicadas pelos povos.
Projetos de lei e emendas à Constituição Federal são elaborados para aniquilar com qualquer possibilidade de que demarcações de terras sejam normatizadas pela Lei Maior do país. Só para se ter uma ideia da articulação e da força que se volta contra os povos indígenas no âmbito Legislativo, tramitam, hoje, no Congresso Nacional mais de 100 proposições que visam alterar artigos concernentes aos direitos indígenas. No Poder Judiciário, decisões isoladas tentam dar nova interpretação aos artigos 231 e 232 [3] da CF/1988 para tentar inviabilizar a aplicação destes dispositivos constitucionais. É o que se tenta, por exemplo, com a aplicação do chamado marco temporal.
IHU On-Line – Como compreender o que está por trás da PEC 215, que quer conceder ao Legislativo a prerrogativa de demarcar terras indígenas?
Roberto Liebgott – É inegável que se concedeu aos ruralistas um excessivo poder político. Em função disso, eles definem os rumos da política indigenista do governo federal e pretendem impor suas regras para as futuras demarcações de terras indígenas e quilombolas. A PEC 215/2000, e mais de uma centena de outros projetos de lei no Congresso Nacional, visam impor limites ao que a Constituição Federal determinou. A ação política dos ruralistas motiva, fomenta e legitima as mais variadas práticas de violência contra os povos indígenas. Nos últimos dez anos foram assassinados no Brasil 754 indígenas, sendo que 390 em Mato Grosso do Sul.
Pacto de morte
A não demarcação das terras é o que gera grande parte dos conflitos e das violências, em especial nos estados do Nordeste, Sudeste e Sul. De acordo com o Cimi, há 1.044 terras indígenas no Brasil, sendo que destas apenas 361 estão registradas. Outras 154 estão “a identificar” e 399 foram classificadas como “sem providências”. Para a instituição, a morosidade das ações demarcatórias se deve a um “pacto” do governo federal com os setores da economia que pretendem usufruir das terras indígenas, em especial os ruralistas.
Sobre a PEC 215/2000, há que se dizer que faz parte da estratégia de inviabilizar os direitos constitucionais dos povos indígenas, fundamentalmente à terra. A proposta de Emenda à Constituição quer consolidar a ideia de que o Poder Legislativo deve orientar e determinar a condução da política indigenista no país — especialmente através da bancada ruralista. Por isso, pretendem impor que a demarcação de terras saia do âmbito do Poder Executivo e vá para o Legislativo. Com isso, todas as demarcações de terras indígenas e também quilombolas passariam pelo crivo e aval dos parlamentares que, se autorizarem uma demarcação, esta será feita através da aprovação de uma lei específica. E para cada demarcação terá de se fazer uma nova lei. Ou seja, os direitos indígenas ficarão submetidos aos interesses políticos de ocasião. Além disso, terras demarcadas ao longo das décadas poderão ser revisadas para atender a nova determinação constitucional (caso a PEC seja aprovada). E ainda, na proposta aprovada naComissão Especial, que segue para o Plenário da Câmara dos Deputados, há a inclusão de dispositivos que viabilizarão o arrendamento das terras indígenas — que são bens da União — e com isso possibilitar que terceiros obtenham lucros sobre bens que não são seus. Incluiu-se ainda outro dispositivo que rompe com a autonomia e protagonismo dos povos, qual seja a retomada da categorização entre os povos, que propõe uma espécie de leitura e análise dos diferentes “estágios de desenvolvimento” e de inserção dos “índios” à sociedade nacional, desrespeitando o artigo 231 da Carta Magna, que reconhece aos povos indígenas suas organizações sociais, seus costumes, línguas, crenças e tradições. Retomam de forma desrespeitosa, conservadora e fundamentalista a lógica da tutela, da integração e da assimilação cultural.
Contradições
A PEC 215/2000 incorpora o que vem sendo denominado, no âmbito do Poder Judiciário, de marco temporal da Constituição de 1988. Isso significa dizer que, se os povos ou comunidades indígenas não estivessem na posse da terra em 1988 ou não estivessem postulando a terra judicialmente ou em disputa física — o chamado renitente esbulho — perderam o direito à demarcação da área reivindicada. Sobre esta interpretação elenco três elementos jurídicos que, no meu entender, são os que causam as principais controvérsias nos julgamentos de tribunais referentes às demarcações de terras e que tomam como base o marco temporal: há, nos julgados dos tribunais, insuficiente entendimento conceitual e não há convergência no entendimento da aplicação do marco temporal nos processos que envolvem a demarcação de terras tradicionalmente ocupadas por indígenas; há divergências entre os magistrados no tocante aos conceitos de direito indígena à terra — posse, ancestralidade, usufruto e bens da União — e posse e propriedade oriundos do direito civil; há desconhecimento quanto à aplicabilidade do direito em relação às diferenças étnicas, culturais e ao fato de os povos indígenas terem sido considerados sujeitos de direitos individuais e coletivos — plenamente capazes, portanto (Art. 232 CF/1988).
Entendo, assim, que o renitente esbulho, ao ser descolado da história de resistência dos povos e comunidades indígenas, constitui-se numa grave contradição, pois impõe aos indígenas uma responsabilidade que não lhes competia antes da Constituição de 1988, qual seja, a de ingressarem em juízo, uma vez que eles eram tutelados pelo Estado. Atualmente, com o fim da tutela expressamente estabelecido em nossa lei maior, o Poder Judiciário não procede a um chamamento dos povos, quando da discussão de processos que lhes dizem respeito. Por isso, é necessário reafirmar que quando o tema foi abordado no caso de Raposa Serra do Sol [5] (o renitente esbulho) o entendimento dos ministros serviu para assegurar a posse indígena sobre terras onde havia fazendas desde o início do século passado.
Incompreensão
Os juízes não entendem as concepções e o modo de ser de cada povo, nem as formas como eles se relacionam com ‘os bens” materiais, culturais, imemoriais, históricos e com a terra. Os povos vinculam-se à ancestralidade, ao pertencimento étnico, à religiosidade, aos simbolismos e aos mitos — concepções sustentadas originariamente. E, ao não entenderem estas diferenças, cometem erros que podem, na prática, colocar em risco bens maiores: a VIDA e a existência de um POVO.
|
|
“O bem-viver indígena não pode ser conquistado sem que haja uma radical mudança nas concepções e políticas destes tempos em que vivemos” |
IHU On-Line – Quais são os desafios para fazer com que a sociedade civil compreenda a realidade de violações aos povos indígenas sem cair em falsos e vulgares problemas como, por exemplo, a ideia de que “índio quer terra e não quer trabalhar”?
Roberto Liebgott – Os desafios são de tornar mais visíveis e mais próximos das pessoas, os problemas vividos pelos povos indígenas. De um modo geral, imagina-se que o que afeta a vida indígena não nos diz respeito. Isso decorre, em parte, da representação estática de índios que se reproduz em muitos meios de comunicação, em muitos materiais didáticos, em peças publicitárias, em filmes, e que os coloca a distância, num espaço de exotismo. Também decorre de um entendimento de que os índios seriam responsáveis pela situação de pobreza por eles vivida, que se sustenta na ideia equivocada de que eles seriam improdutivos e por isso viveriam tempos de escassez. Se essa premissa fosse correta, nenhum trabalhador veria sua família passar fome, e haveria fartura para todos. Mas a realidade não é assim, não em um modelo de sociedade sustentada na apropriação privada, na acumulação e na competição.
A situação vivida pelos povos indígenas nos diz respeito não apenas porque estes vivem cotidianamente situações desumanas (e isso nos implica enquanto humanidade), mas também porque o não cumprimento das garantias constitucionais que lhes são concernentes gera, para todos nós, insegurança jurídica. Se um preceito constitucional pode ser ignorado, descumprido ou contrariado, todos os demais também podem, e isso nos implica a todos, como cidadãos.
A compreensão da realidade indígena passa, portanto, por uma desconstrução de estereótipos e de preconceitos que vêm sendo sustentados e fortalecidos historicamente e que, nestes tempos de produtivismo e de supremacia do discurso desenvolvimentista, se fortalecem, a exemplo da absurda ideia de que os índios não trabalham só porque não aderem inteiramente aos nossos modelos de trabalho, ou a ideia de que eles seriam obstáculos ao desenvolvimento porque não exploram a terra ao seu limite.
IHU On-Line – Em que medida a política neodesenvolvimentista representa um risco à ideia do bem-viver indígena? Como reverter a perspectiva de que o indígena é contra o desenvolvimento?
Roberto Liebgott – A lógica desenvolvimentista se confronta com a ideia do bem-viver indígena. A primeira apregoa que tudo deve se converter em recurso — ambiental, territorial, humano — e a segunda prioriza a vida. A lógica desenvolvimentista baseia-se na concorrência e incentiva as pessoas a gerir suas vidas como se estivessem gerindo uma empresa, a lógica do bem-viver indígena fundamenta-se numa visão de compartilhamento de espaços e de solidariedade entre as pessoas. A lógica desenvolvimentista faz com que vejamos em um rio um potencial de exploração hídrica, enquanto a lógica do bem-viver indígena foca as possibilidades de interação com o rio e com tudo o que nele habita (incluindo os seres que não podemos ver).
O bem-viver indígena não pode ser conquistado sem que haja uma radical mudança nas concepções e políticas destes tempos em que vivemos. E não se trata de construir o bem-viver para os indígenas, e sim de permitir que as concepções indígenas permeiem e reconfigurem as prioridades que temos assumido e as formas como temos lidado com o ser humano, com a terra, lugar comum sem o qual não temos futuro, nem esperança.
IHU On-Line – Como compreender a barreira que torna o chamado “povo branco” inábil para entender a forma de vida indígena?
Roberto Liebgott – A questão de fundo, aqui, é que os povos indígenas não são e nunca foram considerados prioritários ao se traçar qualquer ação do poder público. Há um critério quantitativo que costuma permear as escolhas políticas — quantas são as pessoas assistidas, quantos são os eleitores — e, com base nesse critério, as comunidades indígenas muitas vezes são prejudicadas. A definição de responsabilidades no que tange à atenção diferenciada aos povos indígenas também é utilizada, em alguns casos, para justificar a inoperância ou a omissão de alguns órgãos públicos. Neste caso, em especial, estamos falando de um direito relativo ao transporte escolar, mas a desassistência se traduz também num precário atendimento em saúde, na falta de saneamento básico nas aldeias e, particularmente, na inaceitável condição, imposta a algumas comunidades, de vida em acampamentos provisórios, à beira de rodovias, resultante da morosidade nos procedimentos de demarcação das terras tradicionais destas pessoas.
IHU On-Line – Como discutir políticas públicas para os indígenas, de forma que não os exclua e também não os imponha uma cultura ocidentalizada?
Roberto Liebgott – Talvez o primeiro passo seja questionar a própria forma como se concebem e se estabelecem as políticas públicas destinadas aos povos indígenas. A base de sustentação de muitas destas políticas é assistencial, ou seja, elas se estruturam para assistir, para compensar a falta de algo muito mais imprescindível que é o acesso à terra e a garantia de seu usufruto exclusivo pelos índios. Uma política pública que tenha em vista a autonomia dos povos indígenas deveria ser iniciada com a garantia de participação destes em todas as etapas do processo — do planejamento à avaliação — tal como estabelece a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho – OITe a Declaração Universal dos Direitos dos Povos Indígenas, da Organização das Nações Unidas – ONU. Uma política pública efetiva deve se estabelecer escutando as comunidades indígenas, entendendo suas demandas específicas, permitindo a ampla participação no processo, possibilitando que a tomada de decisão sobre os rumos dessas políticas esteja nas mãos dos povos indígenas. Existe uma legislação bastante avançada, por exemplo, no que diz respeito à educação escolar indígena, mas na execução dessa política pública, as comunidades ainda são reféns das regras, dos formalismos, da falta de conhecimento das secretarias, da imposição de modelos que, muitas vezes, confrontam saberes tradicionais e competem com espaços educativos próprios dessas comunidades. Isso porque, efetivamente, o controle sobre as escolas e seus processos não está nas mãos dos povos indígenas. E o controle não está em suas mãos porque se crê que exista uma cultura escolar (ocidental) que não pode ser alterada, e à qual os índios deveriam aderir.
“Não se trata de construir o bem-viver para os indígenas, e sim de permitir que as concepções indígenas permeiem e reconfigurem as prioridades que temos” |
IHU On-Line – Como avalia a situação dos índios no Rio Grande do Sul? No que se assemelha e se diferencia da realidade em outros estados do Brasil?
Roberto Liebgott – No Rio Grande do Sul as demarcações de terras estão paralisadas desde 2013. No ano de 2014 houve uma intensificação de ações e campanhas contra os direitos indígenas e quilombolas neste estado. Estas campanhas foram desencadeadas no âmbito dos poderes públicos, da mídia e de setores ligados ao agronegócio. Nos discursos disseminados nos meios de comunicação, especialmente por autoridades, os problemas causados pelas demarcações são explicados basicamente a partir de três argumentos: o primeiro afirma haver interesses de grupos estrangeiros nas terras indígenas e isso explicaria o empenho de ONGs e entidades indigenistas (de assessoria aos índios) na defesa das demarcações. O segundo afirma que se trata de muita terra para os “índios”, porque estes “não trabalham” e/ou porque arrendam as terras que possuem. O terceiro argumento reitera que não se pode, a pretexto de demarcar terras para índios, cometer injustiças com os agricultores que alimentam a população.
Racismo Institucionalizado
Em um primeiro olhar, esses argumentos podem parecer bastante convincentes, porque estão naturalizados especialmente nos discursos midiáticos e cotidianos, mas eles têm sido utilizados como escudo para desviar a atenção de questões bem mais complexas (a exploração ao meio ambiente, favorecimento aos setores do agronegócio e o racismo institucionalizado). Antes de tudo, é necessário esclarecer que povos indígenas têm seus direitos originários (sobre as terras que ocupam) amparados pela Constituição Federal de 1988 – Art. 231. Tais direitos já estavam resguardados, antes da promulgação desta lei, através de outras normas que a precederam e que previam que terras indígenas fossem reservadas aos “índios”. Basta lembrar que as primeiras demarcações de terras — na forma de reservas indígenas — ocorreram há mais de um século. Antes ainda, há registros de que os povos indígenas tenham obtido a garantia de suas terras por serviços prestados ao governo, por exemplo, na Guerra do Paraguai [4], em 1864. Portanto, não é nenhuma novidade a necessidade de se demarcar terras indígenas.
Sofismas
Em relação ao primeiro argumento elencado anteriormente, de que nos movimentos em defesa das demarcações de terras indígenas haveria algum tipo de complô de interesses estrangeiros contra a nação, basta lembrarmos que as terras indígenas são bens da União, que devem ser protegidas e resguardadas ao uso exclusivo dos povos indígenas. Este dispositivo legal é suficiente para mostrar que, se há interesses estrangeiros sobre terras brasileiras, certamente as áreas indígenas seriam as menos suscetíveis, porque qualquer investimento sobre elas, que não possua a autorização do Congresso Nacional, é considerado ilegal.
O segundo argumento contrário às demarcações, e aquele que se sustenta na ideia de que “é muita terra para poucos índios”, filia-se a um entendimento de que as terras são recursos necessários ao desenvolvimento nacional, regional, local e que, por isso, devem ser produtivas (dentro de uma lógica desenvolvimentista e unilateral). Nessa direção, indaga-se sobre o porquê de os índios quererem “tanta terra” acionando-se uma lógica racista a partir da qual se avaliam as formas de viver e de trabalhar de todos os povos e culturas a partir dos critérios ocidentais e de uma racionalidade neoliberal, tomada como universal. Por essa ótica racista, só trabalha quem efetivamente faz a terra “produzir”, quem atua sobre ela aproveitando seus potenciais; em oposição, aqueles que desenvolvem uma relação mais respeitosa com o ecossistema e uma atitude preservacionista são vistos como sujeitos que não trabalham, não têm ambição, não sabem dar valor (econômico) à terra.
A alegação de que se trata de muita terra para os índios pode ser contestada com o seguinte dado: o total de terras pleiteadas pelos povos indígenas no Rio Grande do Sul não passa de 0,5% da área do estado. De forma recorrente, lideranças Kaingang têm indagado, em momentos de reflexão: se um estado não consegue se desenvolver com 99,5% de seu território, que diferença farão esses 0,5% que correspondem às terras indígenas?
Arrendamento
Essa perspectiva se desdobra em outra, de que os índios não precisam da terra, por isso a arrendam. Mesmo que eventualmente se registrem casos isolados de arrendamento em terras indígenas, vale lembrar que esta é uma prática ilegal, passível de penalização, e que a fiscalização sobre as terras indígenas é de responsabilidade do poder público. A Constituição Federal instituiu, para as comunidades indígenas, o direito à posse permanente e o usufruto exclusivo sobre as terras que tradicionalmente ocupam (Art. 231, § 2º). O usufruto nas terras indígenas tem caráter coletivo e não individual e, portanto, o direito é das comunidades indígenas e não de cada pessoa individualmente, não podendo ser utilizadas por terceiros.
Agricultores
O terceiro argumento contrário às demarcações também pode ser desnaturalizado: trata-se da ideia corrente de que, a pretexto de demarcar terras para índios, não se poderia cometer injustiças com os agricultores que produzem o alimento da população. Para entender essa questão, é necessário retomar alguns aspectos históricos que nos levam à situação atual, em que índios e agricultores disputam as mesmas terras.
Nas primeiras décadas do século XX, sob argumentos positivistas e desenvolvimentistas, os governos empenharam-se em promover a ocupação territorial e a colonização de espaços considerados “devolutos”. Neste período, a literatura sobre o tema registra a ocorrência de inúmeras práticas de “limpeza étnica”, a partir das quais aldeias inteiras foram exterminadas. Centenas de outras comunidades foram expulsas de suas terras tradicionais e despejadas em outras localidades. Tais remoções forçadas ao longo da história originam os conflitos contemporâneos, posto que são estas as terras, loteadas e vendidas pelo governo do estado do Rio Grande do Sul em décadas anteriores, que agora estão sendo pleiteadas para demarcação. Tanto do lado dos povos indígenas e quilombolas, quanto do lado dos agricultores (que hoje residem sobre as terras), há muitos homens e mulheres que vivenciaram aquele período e que relatam os acontecimentos, indicando que nas terras pleiteadas para demarcação existem indícios materiais da presença indígena e de quilombos, como cemitérios, destroços de antigas moradias, restos de artefatos utilizados para caça, entre outros.
Inegável tradicionalidade
Pois bem, se a tradicionalidade da ocupação indígena e de quilombos não pode ser negada, valem os preceitos constitucionais de que estas terras — no caso das indígenas — são bens da União, que são inalienáveis e indisponíveis e que os direitos indígenas sobre elas são imprescritíveis (Art. 231, § 4º). Não é possível, portanto, imaginar que o erro cometido pelo Estado — ao disponibilizar para colonização e titular terras que não lhe pertenciam — não seja corrigido agora para evitar que ocorra uma injustiça contra os agricultores. É necessário exigir que o Estado responda por seus erros sem que se penalizem os agricultores, estes que, com seu suor, produzem alimentos. Eles têm direito a uma justa indenização e a uma alternativa viável, que deve ser apresentada pelo Estado, para continuar a viver da agricultura, em terras legalmente tituladas e compatíveis com seus modos de produção.
IHU On-Line – De que forma podemos entender o flagelo indígena no Brasil, a partir dos conflitos em Mato Grosso do Sul?
Roberto Liebgott – A situação dos povos indígenas em Mato Grosso do Sul é emblemática, e têm sido recorrentes, sistemáticas e cada vez mais intensas as práticas de violência. Nos últimos 12 anos, 390 indígenas foram assassinados no estado. Outros 707 cometeram suicídio de 2000 a 2014. Esses números, por si só, já indicam a gravidade desta situação. Frente a este quadro extremo, registra-se também a inoperância do governo, que deveria realizar as demarcações das terras para, assim, assegurar aos povos indígenas condições dignas de vida naquele estado. O que ocorre em Mato Grosso do Sul é genocídio. Este não é apenas o entendimento do Cimi, como também do Ministério Público Federal (MPF), da Associação Brasileira de Antropologia (ABA) e de órgãos como a Anistia Internacional, por exemplo.
É bom lembrar que as denúncias de assassinatos, suicídios, perseguições, ataques e muitas outras formas de violência têm sido sistematicamente apresentadas em relatórios do Cimi, e são também reiteradas em pronunciamentos do Ministério Público Federal. As violências se intensificaram, mas também se tornaram mais visíveis nas últimas décadas. Em Mato Grosso do Sul, os casos de violência se acentuaram quando algumas comunidades procederam a uma retomada de terras tradicionais das quais foram expulsas no decorrer do século XX, e sobre as quais se estabeleceram, de modo especial, os empreendimentos agropecuários.
Genocídio em Mato Grosso do Sul
As retomadas de terra em Mato Grosso do Sul colocam em evidência o direito dos índios à terra, direito este que vem sendo negligenciado pelo governo e contestado com veemência por setores do agronegócio. A demarcação das terras indígenas é apresentada, por setores anti-indígenas, como procedimento que gera insegurança jurídica. Contudo, ela é a expressão concreta do reconhecimento constitucional dos povos indígenas como coletividades com organizações sociais e culturais próprias, com línguas, crenças, tradições a serem respeitadas, cuja vida se concretiza sobre um território tradicional que o Estado tem o dever de demarcar e proteger. A insegurança se gera exatamente pela não demarcação dessas terras. Quando, ao contrário, o poder público garante a desintrusão de terras reconhecidamente indígenas, os problemas tendem a cessar, especialmente os vinculados à disputa de terras e violências, como nos casos das terras indígenas Raposa/Serra do Sol (RR), Marãiwatsédé [6] (MT) e Caramuru Catarina-Paraguaçu [7] (BA).
Violência
Os alarmantes números da violência em Mato Grosso do Sul são, em certo sentido, a face mais visível de conflitos que se desenrolam em diversas partes do país. O Relatório da Violência contra os Povos Indígenas, publicado pelo Cimi e relativo ao ano de 2014 [8] mostra que ocorreram ataques a comunidades especialmente nas regiões Sul, Nordeste e Centro-Oeste. Algumas comunidades foram atacadas a tiros, colocando-se em risco a vida de crianças, jovens, idosos. Exemplos disso foram os ataques de pistoleiros contra uma comunidade Tupinambá, no estado da Bahia. No Rio Grande do Sul registrou-se a absurda situação de intolerância na qual a população do município de Erval Grande expulsou os indígenas que estavam acampados nas margens de uma rodovia estadual. Na ocasião, com apoio da Polícia Militar e sem ordem judicial, centenas de moradores do município se deslocaram para o acampamento dos Kaingang e os obrigaram a embarcar num micro-ônibus, que os transportou para a cidade de Passo Fundo, a mais de 130 km de distância. Seus pertences foram jogados sobre a carroceria de um caminhão e despejados diante da sede da Funai, em Passo Fundo.
As violências praticadas contra os povos indígenas em nosso país são avassaladoras. A dor, o sofrimento, as ameaças, as invasões, as torturas, as agressões cotidianas expressam, em síntese, o tipo de política indigenista praticada pelo governo, pois, ao fechar os olhos para acontecimentos tão graves, o governo os avaliza.
“xxxxxxxxx” |
IHU On-Line – O que a cultura branca, ocidentalizada, pode aprender sobre a relação com a terra e o meio ambiente a partir da espiritualidade de povos indígenas?
Roberto Liebgott – Os povos indígenas têm muito a nos ensinar. Mas precisamos, antes de tudo, conhecê-los e respeitar o modo de ser de cada povo — suas culturas, costumes, crenças e tradições. Ao longo de mais de 25 anos de atuação missionária junto a muitas comunidades e povos pude perceber que todos possuem vínculos profundos com o sagrado, com a palavra e com a terra. Estes três aspectos da vida indígena se distanciam dos modelos de sociedades estruturadas no capitalismo, individualismo, primitivismo e na exploração.
Um primeiro aspecto que faço referência é o fato de não haver distinção absoluta, ou uma linha divisória que separa aspectos da vida natural e sobrenatural. Assim, as ações cotidianas são marcadas por certa ritualidade, as explicações para os acontecimentos têm uma base material e também imaterial, as razões para algumas práticas e condutas são de ordem profana e também sagrada. Trata-se, portanto, de uma racionalidade que nos escapa e que não se pauta nas divisões binárias a que estamos habituados (na composição de um pensamento ocidental, de base cartesiana). Cada pessoa precisa aprender a conviver e a estabelecer um equilíbrio entre duas naturezas — a humana e a divina. Aprender a conviver e a conhecer os outros seres que habitam os limites do território é uma das estratégias dos povos. Por exemplo, em uma comunidade guarani é indispensável a existência de uma casa de reza, a Opy. Nela, estreitam-se os vínculos com o Sagrado, realizam-se os rituais mais importantes, estabelecem-se as condições para se ter saúde, realizam-se os processos de nomeação e de cura.
Palavra
Um segundo aspecto que me parece comum entre os povos diz respeito à palavra, um importante elemento de constituição da pessoa e de elaboração contínua do modo de viver. Faço referência a estudiosos como Nimuendajú [9] (1987) e Melià [10] (2004), que estudaram profundamente a cultura Guarani e que nos ensinam que os Guaranisão “o povo da palavra” e a prática de escutar e de falar configura sua organização social, política, religiosa.
A palavra tem grande relevância na vida dos povos indígenas, pois são constitutivas da própria existência das pessoas. Nas relações estabelecidas, a palavra é um componente central (não apenas como meio de comunicação, mas como possibilidade de criação de algo). Ela se converte em conselhos e ensinamentos (dos pais para os filhos, dos anciãos para os jovens, e assim por diante).
Um terceiro aspecto que considero fundamental e que pode servir como referência para a sociedade envolvente é o vínculo dos povos indígenas com a terra. Tratam-na com respeito, como mãe, fonte de vida, lugar onde se restabelecem elos entre as pessoas e seus ancestrais, onde se cultiva a porção divina que vive em cada pessoa e onde se organiza o bem-viver. Por isso, precisa ser amada e protegida, assim como todos os seres que nela vivem e dela dependem, como os animais, as plantas, as matas, as águas…
Por João Vitor Santos e Ricardo Machado
Fonte: IHU