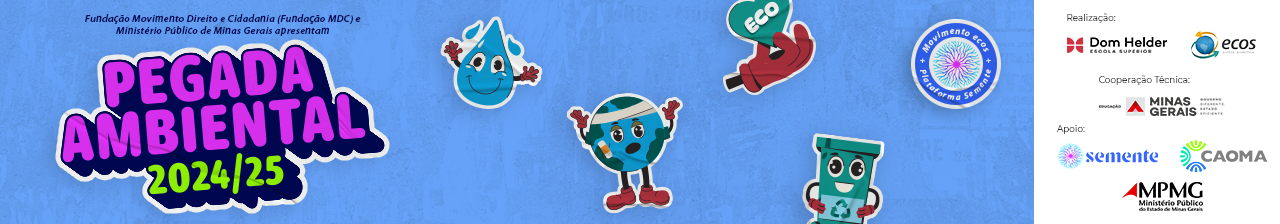"É ínfima a possibilidade de se encontrar solução para qualquer problema global em arenas de 193 Estados dos quais apenas 28 conhecem um incipiente processo de desapego da soberania nacional", escreve José Eli da Veiga, professor titular da USP, em artigo publicado no jornal Valor, 29-11-2013.
Segundo ele, "o mantra das "responsabilidades comuns, porém diferenciadas" passou a ser usado pelo Brasil para retroceder à proposta de que o critério de distribuição dos engajamentos deveria ser o conjunto das emissões imputáveis a cada nação desde a revolução industrial".
Ele pergunta: "Qual pode ser o sentido ético de se pretender estabelecer dívida por práticas dos antepassados das atuais populações do primeiro mundo por problema que a ciência só começou a confirmar nos anos 1970, e cuja seriedade só foi admitida pela comunidade internacional entre 1988 e 1992?"

Eis o artigo.
Há sobre o aquecimento global fundamentações científicas muito mais extensas, profundas e legitimadas do que sobre qualquer outra fronteira ecológica. Por isso, só pode ser ampla, geral e irrestrita a perplexidade diante da falta de ações que mitiguem as emissões humanas de carbono. A recente gincana multilateral de Varsóvia só foi mais um capítulo da maçante novela 'Descompasso entre Ciência e Política do Clima', em cartaz há um quarto de século
Nesse contexto é inevitável a suspeita de que, em última instância, a causa de tanta insensatez seja de caráter cognitivo. E como nas negociações internacionais costuma ser dominante a influência dos economistas, é sobre a natureza de seus diagnósticos e prescrições que imediatamente se volta a averiguação da hipótese. Todavia, está na dinâmica política de seleção de novas regras e normas internacionais a explicação para tão dramático impasse.
Todos os economistas imunes à versão negacionista da mudança climática insistem que o carbono precisa ter um preço capaz de corrigir tamanha falha de mercado, embora essa unanimidade se desfaça quando a questão passa a ser de engenharia: como obter o ajuste. A mais óbvia saída é a taxação, proposta desde os anos 1970 nos estudos do pioneiro William D. Nordhaus, ainda na pré-história da formação do consenso científico sobre o impacto dos gases de efeito estufa. E agora revisitada no livro "Cassino Climático", comentado por Martin Wolf nesta página do Valor de quarta, 27/11.
No entanto, em 1997, momento decisivo para construir as instituições previstas na Convenção de 1992, os corpos diplomáticos reunidos em Kyoto rechaçaram a tributação em favor da proposta fundamentalista de gradual montagem de mercados nos quais se formaria o preço do carbono. As consequências desse cavalo-de-pau demoraram a ficar patentes, mas hoje todos os balanços evidenciam que os efeitos dos muitos mercados de carbono não chegam a ser sequer paliativos. Perdeu-se imenso tempo para constatar que não adianta constranger grandes emissores do setor produtivo a cobrirem os custos de seus direitos de poluir se todo o restante do sistema econômico permanece sem incentivos para reduzir suas emissões. E o pior é que ainda hoje há quem não perceba que uma taxa-carbono sobre o consumo jamais poderia ter sido substituída por restrito comércio de permissões entre as grandes empresas emissoras do setor produtivo.
Porém, tamanha barbeiragem econômica foi ainda superada em Kyoto quando uma majoritária aliança das nações mais pobres manipuladas por potências regionais emergentes (Brics) vibrou com a vitória de Pirro de só estabelecer metas obrigatórias de corte de emissões para as nações mais ricas. E o fizeram sabendo que o parlamento da principal potência dispunha de análises de custo/benefício nacional contrárias à imediata redução compulsória de emissões de gases de efeito estufa, o inverso do que ocorrera com a questão do ozônio no final dos anos 1980. Ou seja, se houve influência de alguma racionalidade econômica no âmago do Protocolo de Kyoto ela foi irrisória e indireta, pois é política a longa marcha do Sul contra o Norte nas instâncias multilaterais.
Ainda mais grave, contudo, é que agora o mantra das "responsabilidades comuns, porém diferenciadas" passou a ser usado pelo Brasil para retroceder à proposta de que o critério de distribuição dos engajamentos deveria ser o conjunto das emissões imputáveis a cada nação desde a revolução industrial. Qual pode ser o sentido ético de se pretender estabelecer dívida por práticas dos antepassados das atuais populações do primeiro mundo por problema que a ciência só começou a confirmar nos anos 1970, e cuja seriedade só foi admitida pela comunidade internacional entre 1988 e 1992?
Além disso, não há proposta que possa ter efeito mais desagregador, pois nenhuma das nações mais ricas poderá admitir que sua precocidade em gerar e adotar as inovações que mais impulsionaram o desenvolvimento moderno constitua motivo de indenização às nações que só mais tarde delas puderam tirar proveito. Melhor seria que recompensassem as que lhes forneceram escravos…
De resto, é ínfima a possibilidade de se encontrar solução para qualquer problema global em arenas de 193 Estados dos quais apenas 28 conhecem um incipiente processo de desapego da soberania nacional. Então, por mais que possam ser apontadas razões de natureza cognitiva, é mediante pesquisas interdisciplinares sobre relações internacionais que se pode avançar no entendimento e explicação da maluquice climática. Não por acaso foram elas que já ensejaram no Brasil duas ótimas análises: "Copenhague: Antes e Depois", de Sérgio Abranches (Civilização Brasileira, 2010) e "Sistema Internacional de Hegemonia Conservadora; Governança Global na Era da Crise Climática", de Eduardo Viola, Matías Franchini e Thaís Lemos Ribeiro (Annablume, 2013).
Fonte: IHU – Unisinos