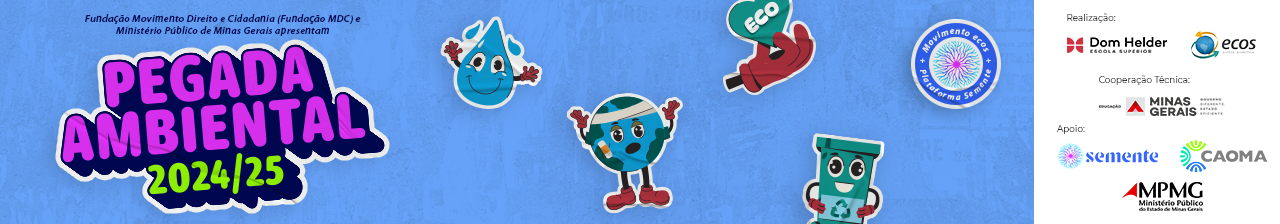Entrevista com Chris Carlsson

Em 1992, Chris Carlsson se juntou a alguns amigos para andar de bicicleta na Market Street, a principal rua de São Francisco, nos Estados Unidos. Eles ocuparam a via e se tornaram o próprio trânsito no lugar dos carros que a ocupavam. Com aquele ato, eles começaram o movimento conhecido como massa crítica, que se espalhou para o mundo inteiro. No Brasil, ele é conhecido principalmente como bicicletada, quando diversas pessoas tomam uma via importante da cidade sem lideranças e trajetos impostos, assim como Carlsson fez há vinte anos.
A entrevista é de Piero Locatelli, publicada na revista Carta Capital, 19-02-2014.
Carlsson conversou com a CartaCapital em visita a São Paulo nesta semana. Ele está no Brasil para participar do III Fórum Mundial da Bicicleta, em Curitiba, e lançar o seu livro Nowtopia – Iniciativas que estão construindo o futuro hoje (Tomo Editorial). No livro, ele defende que o ciclismo, hortas comunitárias e a cultura do “faça você mesmo” contribuem para formar uma sociedade que supere o capitalismo. Com uma abordagem marxista, Carlsson acredita que estas atitudes podem ajudar a classe trabalhadora a se emancipar do trabalho assalariado e ter uma vida melhor e mais saudável.
Eis a entrevista.
O senhor fez parte do começo da massa crítica há vinte anos em São Francisco. Hoje, há grupos como este em todo o mundo, o número de ciclistas urbanos tem aumentado e grandes cidades têm políticas públicas voltadas para a bicicleta. O senhor imaginava o desdobramento que a massa crítica teria?
Não imaginava. Nós começamos com uma comunidade de amigos, porque não havia tantas bicicletas assim em São Francisco. A primeira massa crítica que fizemos tinha cinquenta pessoas. Nós subimos a rua principal da cidade, viramos à esquerda e entramos em um bar. Só isso, foi uma coisa bem simples. Mas deste ato surgiu uma bola de neve, e a massa crítica se tornou um fenômeno global que mudou cidades em todo o mundo, incluindo São Paulo.
Por que o senhor acha que o movimento se espalhou desta forma?
O entendimento mais óbvio é a partir do slogan “isso já estava na cabeça de todos”. Assim que você diz a um ciclista: “em outra cidade eles encheram a rua de bicicletas e voltaram para casa”, o primeiro pensamento dele será: “nossa, vamos fazer isso aqui!” Na lógica de ser tratado como um cidadão de segunda categoria nas ruas, a resposta do ciclista só poder ser feita por meio de uma ação coletiva, com ocupação e reabilitação das ruas.
Não há algo como uma organização central de massas críticas e bicicletadas. Cada movimento se organiza e manifesta de formas diferentes, e ambos os termos são guarda-chuvas para diversos movimentos. Como você acha que a ideia de massa crítica é utilizada pelas pessoas que a organizam?
O uso diferente acontece. As pessoas chamam alguns protestos de massa crítica quando vão a um protesto de bicicleta, mas isso não é a massa crítica: é um protesto de bicicletas. Mas eu não me importo, o conceito não é meu e as pessoas fazem o que quiserem dele.Para mim, a massa crítica é um evento sem outras razões. Ela não é instrumentalizada, você não a usa para atingir outra coisa. Mas naquele espaço você pode começar a fazer outras coisas.
É como uma incubadora de ovos aonde eles vão chocando. Tudo que você pode pensar já começou numa massa crítica: novas campanhas, grupos políticos, amizades, negócios, famílias, e por aí vai. A melhor coisa é que a massa crítica deu a todo um setor da população a chance de achar outra maneira de fazer política.
Você vê a bicicleta como uma ferramenta anticapitalista. Porém, ela ganhou espaço em propagandas e é um objeto de consumo. Em cidades como Londres, São Paulo e São Francisco, os bancos administram as bicicletas chamadas de “públicas”. Diante dessa absorção dela por empresas, a bicicleta ainda pode ser uma ferramenta de transformação contra o capitalismo?
Só a bicicleta não é suficiente. A bicicleta, por si só, não é interessante. Ela é um meio de transporte e um produto industrial. A história dela também é a história da escravidão na Amazônia e no Congo, em busca de borracha para fazer bicicletas para o hemisfério norte. Já a história contemporânea da bicicleta no século XX é a da resposta a automobilização das cidades, e isso pode ser uma resposta para fazer algo diferente na cidade.
A bicicleta é um meio de transporte em seu senso literal. Ela ajuda as pessoas a chegarem do ponto A ao ponto B, e isso é uma simples realidade apolítica. Mas a pessoa pode decidir se vai de trem, carro, ônibus, andando, pulando ou voando ao ponto B. E existe política nessa decisão.
Então o real transporte que a bicicleta pode fazer politicamente é levar você para outra maneira de viver. E isso não acontece automaticamente. Isso necessita um contexto e um pensamento político. A bicicleta é um objeto em que você pode despejar sentido, como você coloca um líquido em um copo. E o sentido vem das nossas cabeças, das nossas decisões. Se não colocarmos o sentido político nela, ela é só um objeto chato, perfeitamente compatível com o capitalismo.
Além disso, você pode ter uma sociedade capitalista baseada em bicicletas. O problema é que a sociedade capitalista é baseada no crescimento, e não vai crescer tão rapidamente porque não estão desperdiçando tantas coisas quanto com carros. Então as bicicletas são um passo atrás na lógica capitalista, mas não um passo completo.
E você acha que a maioria dos ciclistas preenche a bicicleta com este sentido anticapitalista?
A maioria não. Mas uma coisa interessante que pode acontecer é que, pedalando na massa crítica, as pessoas conversem com outros ciclistas que fazem política, ou que estiveram pensando sobre isso. Porém, isso não acontece sempre. Há ciclistas organizados em torno de lojas de departamento, e até pela polícia. Quando a bicicleta está em um processo mais aberto, como a massa crítica, ela tem mais chances de ser parte de um processo de mudança social e pessoal.
Seu livro trata de exemplos norte-americanos de ciclistas, hortas comunitárias e outras formas de ativismo. No Brasil, apesar da maior parte dos ciclistas estarem em cidades menores e nas periferias das metrópoles, o ativismo é atrelado a pessoas de bairros mais ricos. O mesmo acontece com a permacultura em São Paulo, por exemplo. As experiências citadas no livro podem ajudar as pessoas menos favorecidas de uma sociedade desigual como a brasileira?
Algumas pessoas estão tão desesperadas para manter sua sobrevivência que passam cada minuto da sua vida trabalhando, e não têm tempo para fazer mais nada. Isso pode significar sair da periferia de São Paulo e deslocar-se 60 quilômetros por dia. Trabalhar 14 horas, ficar quatro no trânsito, dormir seis horas e começar tudo isso de novo. É uma vida muito difícil, próxima à escravidão. Nós, que não vivemos assim, temos muita dificuldade de entender.
Porém, essas pessoas podem decidir fazer uma parte dessa jornada de bicicleta, decidir trocar o que fazem. Elas ainda têm livre-arbítrio. Elas podem tentar plantar comida perto da sua casa, e com isso depender menos de fazer dinheiro. Um pouco, não muito, é claro. Elas também podem cooperar com seus vizinhos, pois eu acredito que as sociedades pobres têm mais solidariedade que nós, que é uma chave para a sua sobrevivência.
Sempre há uma margem para reduzir a necessidade de dinheiro e aumentar a relação com o bem comum. Todo mundo, em qualquer situação, pode fazê-lo se decidir isso.
O senhor fala que os sindicatos são formas de organização obsoletas para os trabalhadores. Qual é o papel das organizações de trabalhadores dentro da sua ideia de mudança?
O problema que eu tenho com os sindicatos é que eles desistiram de questionar o que fazemos há muito tempo. Eles não se importam, eles só querem trabalho. Fazer estradas horríveis, construir prédios em todos os cantos, colocar cimento na nossa terra, o que for. Por que estamos fazendo este trabalho estúpido? Trabalhando em bancos, companhias de seguro, fazendo coisas que vão quebrar em seis meses.
Nós fazemos muitas coisas estúpidas, e os sindicatos não se importam com isso. Não é parte da lógica em que eles foram fundados. A lógica é só ganhar mais dinheiro para os trabalhadores, e defendê-los em seu próprio trabalho. Eles deveriam começar a pensar em como vivemos, os problemas que enfrentamos e quais o trabalho que deveriam ser feitos para solucionar este problema.
O senhor defende em seu livro que toda atitude é política, e cita mudanças vinda das mãos ou da organização dos cidadãos, sem interferência do Estado. Qual o papel da política institucional nestas mudanças?
As instituições políticas, os governos e as agências que eles mantêm mostram pouca adaptabilidade na história que vimos até hoje. Aacho que estamos vivendo em um período em que você vai mudar isso.
A repressão que vimos no Brasil em junho do ano passado é um bom exemplo disso, de como o Estado não consegue responder às pessoas se unindo de forma horizontal e indo às ruas. Nós vimos isso também na Turquia, na Espanha, na Grécia e no Egito. E em todas houve uma grande repressão do Estado. Então ele está muito preso nas suas formas antigas, e não mostra uma capacidade de se adaptar.
Certo, mas então se uma revolução vier, o que isso significa? Eu acho que poderiam surgir instituições que ajudariam as pessoas a cuidar das coisas, de baixo. Uma democracia efetiva, não somente votar para pessoas no Estado. Uma democracia que permita as pessoas decidirem como gastamos os recursos, como vamos prover água e eletricidade, como trabalhamos e para o quê.
Fonte: IHU – Unisinos