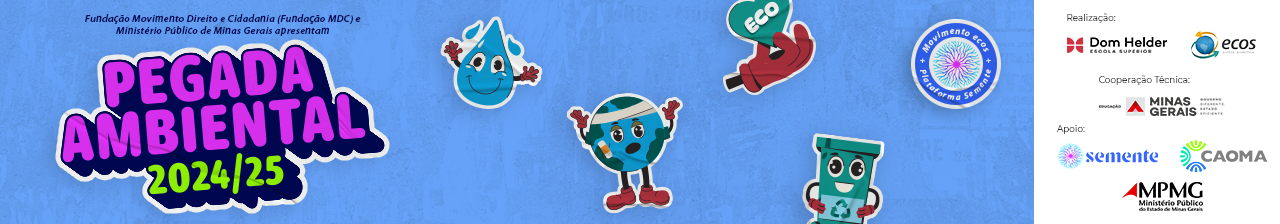No imaginário do nosso Brasil brasileiro, índio fica bem numa foto exótica na Floresta Amazônica ou num livro romântico de José de Alencar.
A reportagem é de Léticia Duarte, publicada originalmente pelo jornal Zero Hora e reproduzida por CombateRacismoAmbiental, 18-05-2014.
Mas os conflitos recentes no norte gaúcho, que culminaram na morte de dois agricultores em uma área de disputa por terras com caingangues, voltaram a expor o dilema mais real e perverso de um país que há mais de 500 anos ainda tenta descobrir qual é o lugar dos povos indígenas nesta pátria nem tão gentil.
A realidade ecoou crua, com tiros, pedradas e pauladas. Dois irmãos abatidos no fim de abril ao tentarem furar o bloqueio de uma estrada em que indígenas protestavam pela demarcação de terras, na conflagrada Faxinalzinho, de 2,5 mil habitantes. Foi mais um capítulo em um cotidiano de tensão histórico, acirrado pelas oscilações do poder público na política de demarcação de terras em todo o território nacional.
Somente no norte do Rio Grande do Sul, são 14 focos de tensão por disputas territoriais, segundo estimativa doConselho Indigenista Missionário (CIMI) – e em pelo menos 10 Estados do país a situação é crítica. Em Mato Grosso do Sul, o mais violento foco de conflitos com o agronegócio da soja e da cana-de-açúcar, o número de mortes de indígenas já passa de 300 desde 2004.
Para o historiador da Faculdade Meridional (IMED) Henrique Kujawa, um dos autores do livro Conflitos Agrários no Norte Gaúcho: Índios, Negros e Colonos (Imed, 2013), as razões do tensionamento crescente recaem sobre nossa política indígena, historicamente contraditória.
No início do século 20, inspirado pela lógica positivista, o governo de Borges de Medeiros foi pioneiro na demarcação de reservas, instituindo 11 áreas indígenas no norte do Rio Grande do Sul. A partir dos anos 1960, no governo Brizola, as mesmas reservas foram partidas em lotes e vendidas para agricultores. A partir de 1988, a Constituição Federaldevolveu todas as áreas originárias aos indígenas, estipulando prazo de cinco anos para a regularização.
No Rio Grande do Sul, durante a década de 1990 foram restabelecidos os limites das áreas indígenas historicamente demarcadas, e os agricultores tiveram que sair das terras que haviam comprado nos anos 1960. Na última década, os indígenas passaram a reivindicar as terras ocupadas por agricultores no início do século 20.
– Tanto indígenas como agricultores ficam como ioiôs, jogados de um lado para o outro. É todo um conjunto de conflito pela posse das terras – observa Kujawa.
Por trás da hesitação dos governos em devolver terras hoje produtivas aos indígenas reside outro imbróglio: o embate entre o modelo desenvolvimentista e uma cultura ancestral que escapa a essa lógica. Assim, no Brasil com pretensões modernas, prevaleceu durante muito tempo a ideia de que o índio deveria ser eliminado ou incorporado à civilização.
– O índio que vive na oca é um espetáculo. Mas na medida em que chega perto, que começa a disputar espaço, vira um obstáculo que atrapalha. O Brasil tem essa obsessão desenvolvimentista que passa por isso, ver índio como atraso. Se chegar no Tocantins, por exemplo, e perguntar se ali tem índio, são capazes de dizer que não. Só diz que tem se não puder esconder – analisa o antropólogo Roberto DaMatta.
No confronto entre essas diferentes visões, o brasileiro se divide entre dois extremos. Em sua dissertação de mestrado em história pela Universidade Federal de Pernambuco, intitulada O Lugar do Índio: Conflitos, Esbulhos de Terras e Resistência Indígena no Século XIX: o caso de Escada-PE (1860-1880), o historiador Edson Silva lembra que, na época pós-independência, a imagem do índio foi utilizada como símbolo da nacionalidade deste Brasil emergente à procura de identidade, que tentava se libertar da imagem dos colonizadores portugueses, ganhando impulso épico com a literatura romântica.
Já a partir de meados do século XIX, com o afã progressista, propagou-se o discurso de que era preciso converter os “bárbaros” índios em “homens civilizados” – e seu não ajustamento à lógica capitalista teria levado os indígenas a serem tachados de preguiçosos, vagabundos. Hoje, o impasse permanece.
– O índio continua com uma representação folclórica e distorcida, que leva a muito preconceito. Temos uma relação esquizofrênica com os índios: se ele está na floresta, é selvagem, provoca medo. Se está no nosso mundo, não são índios. Hoje, segundo estimativas oficiais, 40% dos índios estão urbanizados, e isso significa repensar o lugar do índio na nossa sociedade. Mas ainda existe um não-lugar – analisa Edson.
À medida que o índio deixa de se enquadrar no estereótipo idílico, aumenta o discurso de culpabilização por estarem “aculturados”, como se, por usarem telefone celular ou energia elétrica, deixassem de ser índios. O que é considerado preconceito por estudiosos da cultura indígena.
– Ser índio é bem mais do que usar um cocar, é uma forma de entender o mundo. A gente come comida japonesa e não deixa de ser ocidental. Esse argumento de que eles não são mais índios serve para invalidar as reivindicações por terra, porque não seria culturalmente válido, e isso tem um fundo perverso, que anula a identidade do outro. NaConstituição está garantido que eles têm direito a terras, mas como se descaracteriza isso? Dizendo que não são mais índios – critica a professora Paula Caleffi, doutora em história pela Universidad Complutense de Madrid com tese sobre os índios guaranis.
Ao vincular os indígenas a uma ideia de passado, o país deixaria de enfrentar o tema como parte do presente e do futuro do país. Presos a chavões como a ideia de que o país dispõe de “muita terra para pouco índio”, por exemplo, perderíamos a oportunidade de discutir a distribuição da terra.
O pesquisador do Centro de Estudos Ameríndios da USP Spency Pimentel, professor da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila), observa que 98,5% das terras destinadas para indígenas estão na Amazônia, enquanto 52% da população indígena vive fora dela – em 1,5% das áreas restantes.
– O país fez reforma agrária em terras indígenas, os povos não foram consultados. Existe esse problema político na democracia brasileira. Ainda hoje muitas políticas são impostas, não passam por diálogo com eles. É preciso criar esses esses espaços de diálogo – defende.
Em meio a tantas teses, quem ouve o que representantes indígenas têm a dizer pode se surpreender. Indígena munduruku e conselheiro-executivo do Museu do Índio do Rio de Janeiro, o escritor Daniel Munduruku, que tem mestrado em antropologia social e doutorado em educação pela USP, chega a questionar a própria definição de índio:
– Chamar alguém de índio é desqualificar seu pertencimento a uma humanidade que foi sendo construída ao longo de milhares de anos. Este é um termo que diminui, que vem sendo usado pelo sistema econômico para facilitar o estereótipo e assim construir uma imagem negativa da cultura indígena.
Creio que o grande papel dos indígenas na sociedade brasileira é manterem-se vivos para poder questionar o status quo que os quer destituídos de seus direitos básicos. O grande papel é mostrar que se pode ter tudo, sem deixar de ser o que se é.
Em pleno século 21, os índios ainda procuram seu quinhão na aldeia global.
|

Fonte: IHU – Unisinos
|