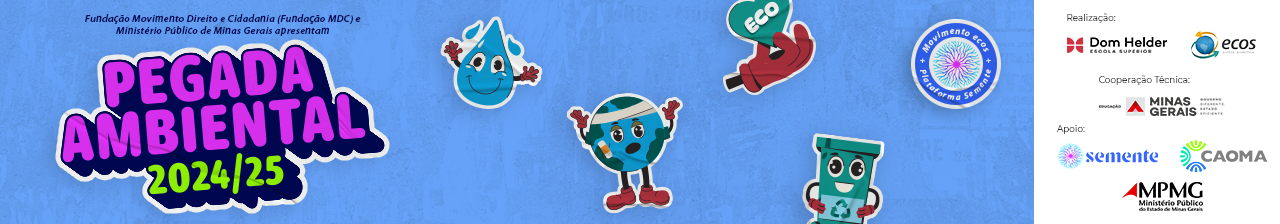Entrevista com Ricardo Abramovay

Responsabilidade compartilhada, poluidor-pagador, logística reversa. Daqui em diante vamos conviver com esses e outros termos até agora estranhos. Eles passam a fazer parte do cotidiano dos brasileiros e revelam uma nova era na destinação do lixo, com o início da vigência, a partir de meados de 2014, da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). Ela prevê o fim dos malcheirosos lixões a céu aberto e a certeza de que a sociedade terá papel decisivo na destinação adequada do lixo. Inclusive o cidadão comum.
Quem revela o significado dessas expressões e como será a vida quando vigorar a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) é Ricardo Abramovay, professor de economia da Universidade de São Paulo especializado em desenvolvimento sustentável.
A reportagem é de Alexandre Severo e publicada por Planeta Sustentável, 19-12-2013.
Sobre o tema, ele e colegas lançaram o estudo Lixo Zero – Gestão de Resíduos Sólidos para uma Sociedade Mais Próspera, disponível em formato digital pelo Planeta Sustentável (que lançou Muito Além da Economia Verde, de sua autoria, em 2012), do qual é conselheiro. O economista alerta que se deve frear a exploração dos recursos naturais e estimular a reciclagem: “Lixo é riqueza, não pode ser desperdiçado”.
Eis a entrevista.
Qual é o ponto crucial da Política Nacional de Resíduos Sólidos?
É a chamada responsabilidade compartilhada. Ela sinaliza que estamos todos incumbidos de dar destinação correta ao lixo produzido: as prefeituras, os governos estaduais e federal, as empresas e o próprio consumidor. É importante delimitar em que consiste o compromisso de cada um; sobretudo, saber quem paga a conta. Para o consumidor, a responsabilidade compartilhada exige que ele separe seu lixo, preparando-o para a reciclagem, sob pena de multa. A lei prevê também o conceito da responsabilidade estendida. Com ela, o produtor ou o importador (denominados poluidores-pagadores) terão de responder pelo envio apropriado dos rejeitos do que venderem ao consumidor final, incluindo a estruturação da logística reversa – o recolhimento e a devida reciclagem desses produtos pós-consumo –, para que tenham destinação mais adequada que não os aterros.
Mesmo os aterros controlados não são apropriados?
Não. Temos três tipos de aterro: os lixões a céu aberto, os aterros controlados e os sanitários. Todos são inadequados porque o resíduo sólido é uma riqueza que pode e deve, em sua esmagadora maioria, ser reaproveitada pela sociedade.
Será preciso fazer campanhas para conscientizar o consumidor?
Sim. A experiência internacional mostra que o consumidor só faz a parte dele quando recebe boa educação ambiental. Na Europa, as empresas gastam muito dinheiro com publicidade pedagógica, e aqui será preciso fazer o mesmo. Também é necessário ter um sistema de coleta coerente com essa nova obrigação do consumidor. Em muitas cidades brasileiras é frequente as pessoas mais conscientes fazerem a triagem de seu lixo domiciliar e depois constatarem que o caminhão da coleta mistura todos os rejeitos de novo. Isso desmoraliza o processo. É mais um fator institucional, que precisa ser organizado de forma coerente nos municípios por três atores importantes: as prefeituras, os catadores e as empresas.
O senhor concorda com o pagamento de uma taxa sobre os resíduos produzidos pelo consumidor?
É polêmico, mas creio que essa deva ser outra responsabilidade das pessoas. Na cidade de São Paulo, a taxa chegou a ser cobrada, anos atrás, e depois foi suspensa. Houve o erro de demonizar essa cobrança, e sua suspensão foi tratada pelos paulistanos como uma vitória da cidadania. Mas a taxa do lixo continua sendo paga, agora embutida no imposto predial e territorial urbano (IPTU).
Sem a cobrança explícita, as prefeituras não podem premiar quem faz a separação correta de seu lixo nem oferecer incentivos às pessoas que produzem menos resíduos e promovem a reciclagem.
Quem irá financiar o sistema de logística reversa?
Serão os fabricantes e importadores; por isso, agora são chamados de poluidores-pagadores. O sistema já é praticado, de forma eficiente, no Brasil, com pneus, embalagens de óleos combustíveis e de agrotóxicos, além de baterias automotivas. Esses cinco setores privados organizam e pagam os custos da coleta e da reciclagem dos produtos, antes mesmo da nova lei. Em meus tempos de criança, o que mais se encontrava nos rios Pinheiros e Tietê, em São Paulo, eram pneus velhos. Hoje, eles são reciclados. Há uma agência chamada Reciclanip responsável por essa tarefa. No caso das embalagens de agrotóxicos, o setor gasta R$ 80 milhões por ano para organizar sua logística reversa.
A dificuldade maior está em produtos com venda descentralizada e descarte domiciliar.
Quais são esses produtos?
São embalagens em geral, desde latinha de bebida até garrafa PET e caixinha longa-vida. Nesse ponto, a lei quer aguardar o que os respectivos setores têm a dizer. Aí, há uma queda de braço entre fabricantes e governo: a proposta das empresas é apenas auxiliar com recursos financeiros os catadores de rua, oferecendo a eles infraestrutura para melhorar o trabalho e a produtividade.
E só. No entender desses fabricantes, a tarefa de coleta e logística reversa ficaria a cargo das prefeituras, com os catadores.
A alegação é de que não é possível ir aos domicílios recolher as embalagens descartadas. Acontece que esse tipo de argumento está enfraquecido. Ao contrário do que propõem no Brasil, essas mesmas empresas se comprometem com o pagamento da logística reversa nos países desenvolvidos.
Essa responsabilidade empresarial deve ser cada vez maior?
Sim. A responsabilidade estendida não pode mais ser vista como excesso ambientalista ou exagero. É uma tendência de comportamento das grandes marcas globais. As empresas cada vez mais começam a pensar em sua cadeia de valor como um todo, e a reciclagem faz parte dessa crescente preocupação.
E o caso de pilhas, lâmpadas e eletroeletrônicos, que contêm substâncias tóxicas?
A logística reversa de produtos de difícil manuseio e com grande potencial tóxico também será responsabilidade financeira do fabricante ou do importador. Mas ninguém sabe ainda como se organizará a reciclagem. Isso porque a lei brasileira foi sábia em esperar os próprios fabricantes fazerem suas propostas como ponto de partida. O governo está recebendo essas sugestões.
Qual é a tarefa de prefeituras, estados e União com a PNRS?
As prefeituras continuarão respondendo pelo recolhimento do lixo domiciliar e, em parte, pela coleta seletiva porque são elas as primeiras responsáveis pelos resíduos gerados em seus municípios. Portanto, se esses resíduos serão recolhidos por organizações de catadores – além do trabalho das empresas de coleta contratadas –, deverá haver um acordo entre as partes constantes nos chamados planos municipais de gestão de resíduos sólidos. O problema é que, pela nova lei, as prefeituras já deveriam ter elaborado seus planos, e, hoje, menos de 10% delas têm eles prontos. Se não o fizerem, deixarão de receber os recursos para organizar seus sistemas de coleta. Isso revela como o poder público está atrasado, porque a base ainda não fez sua lição de casa.
Além disso, por questões legais, municípios com menos de 15 mil habitantes não podem ter aterros sanitários. Portanto, será preciso montar consórcios municipais e criar aterros conjuntos, o que, é certo, trará dois problemas. Primeiro, o orçamento do lixo no país tem a tradição de ser grande financiador de campanhas eleitorais.
Assim, é muito difícil partilhar esse orçamento com outras prefeituras, até porque isso só pode ser feito sob absoluta transparência, o que não é o que vigora no Brasil. Segundo, há aquela velha questão do “no meu quintal, não”. Ninguém vai querer um aterro em sua cidade. Resumindo: os consórcios necessários para acelerar essa transição dos lixões para os aterros sanitários ainda estão muito atrasados e será uma grande dificuldade implementá-los. Hoje, no Brasil, pouco mais de 40% de todo o lixo tem destinação inadequada. A grande maioria está em cidadezinhas das regiões Norte e Nordeste do país.
Os estados também terão papel fundamental, mas, assim como as prefeituras, os estados do Norte e do Nordeste ainda não têm planos concluídos. Por fim, o governo federal está implementando a lei, tem recursos destinados para tal, mas o dinheiro está bloqueado, pois a maioria das prefeituras e muitos estados não fizeram a lição de casa. Esse cenário fortalece a tese de que é preciso haver maior responsabilidade do setor privado. Não se pode esperar que o poder público conclua suas pendências com rapidez e facilidade, porque isso não vai acontecer.
Como resolver a questão dos catadores? Melhor tê-los regularizados ou dar a eles atribuições mais dignas?
O melhor é tê-los regularizados. A cidade de San Francisco, nos Estados Unidos, tem 800 mil habitantes e dois mil catadores de resíduos sólidos regularizados e equipados. É um trabalho digno. O serviço ambiental que essas pessoas prestam à sociedade é inestimável. No Brasil, quem faz esse trabalho é vítima das piores formas de exclusão social; por isso, associa-se essa tarefa à degradação, quando não deveria ser assim. Em uma sociedade saudável, em que não há trabalho indigno, é preciso ter uma forma de coleta destinada à reciclagem como a dos catadores.
As associações de catadores estão procurando organizar a categoria, mas a grande maioria deles está na informalidade.
Incinerar lixo para gerar energia pode ser um bom modelo?
Estudo recente compara biodigestores e incineradores convencionais. Biodigestores são mais adequados na produção de energia porque funcionam só com resíduos orgânicos, deixando os inorgânicos para reciclagem. É preciso comparar o valor potencial que provém da reciclagem com o valor do que é incinerado para produzir gás e gerar energia. Mesmo que haja vantagem ambiental e econômica em incinerar, não considero como a melhor solução. Queimar resíduos pode ser um estímulo ao desperdício para uma sociedade que ainda cultua o vício do “jogar fora”. Nós, brasileiros, e também os americanos somos sociedades assim. A vantagem de optar pela reciclagem é que esse fator incidirá também na concepção dos produtos. Até agora, não vi nenhum caso no Brasil de empresa que, com base na PNRS, tenha modificado o desenho de seus produtos em função da necessidade de facilitar a separação dos diferentes materiais para a logística reversa.
No Brasil, a quantidade de resíduos aumenta de forma vertiginosa à proporção do crescimento econômico. Como estancar isso?
Com o aumento na renda, a quantidade de lixo também cresceu. Não há orientação na publicidade ou nas políticas de crédito ao consumidor no que diz respeito ao destino do lixo. Dados recentes apontam que cada ser humano consome 10 toneladas por ano de recursos naturais. É a nossa chamada pegada material, e ela só faz aumentar: no início dos anos 2000, foram extraídos 60 bilhões de toneladas de matéria orgânica, minérios e combustíveis fósseis. Em 2008, esse número saltou para 70 bilhões de toneladas. Esses recursos não são infinitos. Se não tivermos inteligência para usar o que foi retirado do planeta, chegará o momento em que não teremos mais de onde tirar.
Fonte: IHU – Unisinos