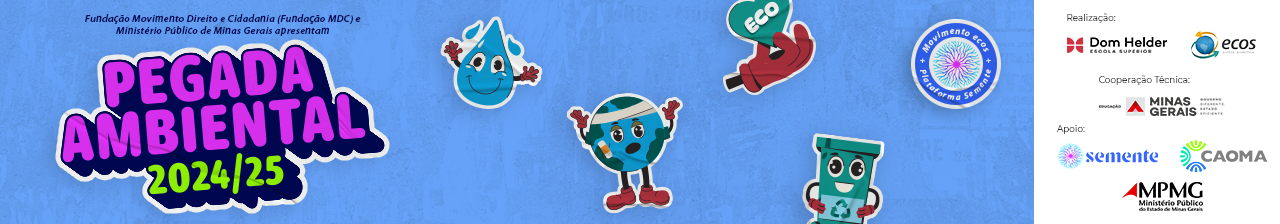“Vivemos um problema ético no Brasil, porque o não reconhecimento dos direitos indígenas e dos direitos sociais, em geral, é uma questão que só pode ser discutida e colocada no âmbito da ética”, afirma a antropóloga.
 |
| Foto: Parque da Ciência |
“O número de casos de violações e violência contra indígenas aumenta, diminui, aumenta, diminui, mas o padrão da violência contra os indígenas não se modifica”, diz Lucia Helena Rangel à IHU On-Line, na entrevista a seguir, concedia por telefone, em que comenta o Relatório Violência Contra os Povos Indígenas no Brasil – dados de 2014, lançado peloConselho Indigenista Missionário – Cimi no dia 19-05-2015, na sede da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB, em Brasília. De acordo com a antropóloga, que há anos trabalha em conjunto com oCimi na avaliação dos dados do Relatório, é “bastante delicado” buscar as causas desta violência, porque a relação de causa e efeito “não é tão nítida, na medida em que há uma série de fatores que contribuem para essa situação”.
Além dos casos tradicionalmente conhecidos de invasão de terras indígenas e de agressões contra as comunidades,Lucia Helena chama atenção para os índices de mortalidade na infância. Uma relação que explica essa situação é a falta de terras e a introdução de uma alimentação à base de alimentos da cesta básica. “Aquelas comunidades que não têm terra para plantar, e que têm como fonte alimentar a cesta básica, sofrem de subnutrição, porque a cesta básica é composta, sobretudo, de carboidratos e açúcares; tem um pouco de feijão, uma lata de olho, leite em pó, mas não tem proteínas e vitaminas. Contudo, temos de considerar que o padrão alimentar indígena é, sobretudo, advindo das roças, e tem como base o milho, a mandioca, o amendoim. Nesse sentido, quando a comunidade não tem terra para plantar, a alimentação é drasticamente reduzida e as consequências maiores se dão nas crianças, porque elas não suportam uma alimentação tão desbalanceada”, esclarece.
Entre os Yanomami e os Xavantes, a desnutrição e os índices de mortalidade na infância são os mais altos. “A população Xavante é muito grande, e eles estão num processo de retomada de algumas aldeias antigas que ficaram dentro de aldeias apropriadas por grilagem de terras. (…) Na terra dos Yanomami, ao contrário, não há problema de terras, porque eles têm uma área demarcada, têm liberdade de plantar o que quiserem, de caçar para manter o seu padrão reprodutivo. Mas, nos últimos três anos, como não há fiscalização, houve novamente a invasão de garimpeiros ilegais. Quando ocorre a invasão de garimpeiros, as doenças proliferam. Então, quanto mais doenças, mais as crianças sofrem, porque elas são o elemento de maior vulnerabilidade em situações de epidemias e alastramento de doenças”, exemplifica.
Na avaliação da pesquisadora, a situação dos indígenas no país demonstra que o Brasil enfrenta um problema ético à medida que alguns setores sociais não aceitam os direitos indígenas garantidos na Constituição. “Para mudar a mentalidade, nós precisamos de ações que, aos poucos, vão conquistando uma coisa, conquistando outra, e quem sabe um dia construiremos uma boa ética da diversidade”, conclui.
Lucia Helena Rangel é doutora em Antropologia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP com a tese Os Jamamadi e as armadilhas do tempo histórico. É professora do Departamento de Antropologia da Faculdade de Ciências Sociais e do Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciências Sociais da PUC-SP. Também é assessora do Conselho Indigenista Missionário – Cimi (Regional Amazônia Ocidental) e do Cimi Nacional.
Confira a entrevista.
 |
| Foto: TV Brasil / EBC TV |
IHU On-Line – A que atribui o aumento da violência e das violações praticadas contra os povos indígenas no Brasil em 2014? Como a senhora situa esse relatório em relação aos anteriores?
Lucia Helena Rangel – Primeiro temos de esclarecer um ponto importante: o número de casos de violações e violência contra indígenas aumenta, diminui, aumenta, diminui, mas o padrão da violência contra os indígenas não se modifica. Então, buscar as causas desta situação é algo bastante delicado, porque a relação de causa e efeito não é tão nítida, na medida em que há uma série de fatores que contribuem para essa situação. Ao longo das décadas em que o Cimi registra os casos de violência, percebemos um padrão que se repete, tanto que o Relatório, no atual modelo, segue um mesmo padrão desde os anos 2000, e desde 2003 temos sistematizados os dados da mesma maneira, para poder compará-los.
A partir desses relatórios, podemos perceber que a violência nem diminui nem aumenta, mas há um maior número de ocorrências. Então, em determinados momentos e em algumas situações, sejam elas regionais, locais ou até nacionais, podemos fazer uma relação. Por exemplo, as violências contra o patrimônio indígena, o que inclui a retirada de recursos naturais do patrimônio indígena, sobretudo a madeira, a pesca e o garimpo ilegal. Essa modalidade de violência contra o patrimônio tem uma relação com a aprovação das mudanças no Código Florestal. Dá para estabelecer essa relação, porque desde que começou a discussão da revisão do Código, a retirada de madeira aumentou assustadoramente no Pará, em Mato Grosso e em diversos locais da região Amazônica.
O Código Florestal foi aprovado com base no perdão do fato consumado. Então, houve um recrudescimento da retirada de madeira para criar um fato consumado no passado; o artifício é esse. Nesse sentido, o Código Florestalabriu a porteira do desmatamento. Não estou querendo dizer que a causa do desmatamento é somente essa, porque tem um conjunto de outros fatores.
Do mesmo modo, as grandes obras também afetam e atingem diretamente as áreas indígenas. Essas são obras controladas pelo governo federal, executadas por empresas privadas, mas é o aparato estatal que sustenta essas ações. Em Belo Monte, por exemplo, a legitimação dessa obra é dada pelo próprio Estado.
IHU On-Line – A senhora chama atenção para a mortalidade na infância entre os indígenas. Quais são as causas e como esse problema tem sido tratado pelos órgãos responsáveis?
Lucia Helena Rangel – Registramos um aumento muito grande de mortalidade na infância, que corresponde à mortalidade de 0 a 5 anos. A Organização Mundial da Saúde – OMS caracteriza mortalidade infantil como sendo entre 0 e 12 meses. Nós estamos chamando de mortalidade na infância porque registramos muitos casos de mortes de crianças com dois, três anos. Fizemos isso para sistematizar os dados de maneira mais clara, porque o bebê que mama está relativamente bem protegido, mas as crianças começam a ficar doentes e a ter desnutrição quando passam a comer comida sólida.
Um fator que também não está muito claro, mas para o qual há uma correlação possível de ser feita, é que daquelascomunidades que não têm terra para plantar, e que têm como fonte alimentar a cesta básica, sofrem de subnutrição, porque a cesta básica é composta, sobretudo, de carboidratos e açúcares; tem um pouco de feijão, uma lata de olho, leite em pó, mas não tem proteínas e vitaminas. Contudo, temos de considerar que o padrão alimentar indígena é, sobretudo, advindo das roças, e tem como base o milho, a mandioca, o amendoim. Nesse sentido, quando a comunidade não tem terra para plantar, a alimentação é drasticamente reduzida e as consequências maiores se dão nas crianças, porque elas não suportam uma alimentação tão desbalanceada. A cesta básica não prevê uma alimentação correta para as crianças no sentido de prever que elas precisam comer vitaminas, proteínas, etc.
No ano passado registramos duas situações em que a mortalidade na infância foi muito alta: uma foi entre osYanomami e outra foi entre os Xavantes. No caso dos Xavantes, já faz tempo que tem ocorrido esse problema, porque eles estão cerceados, suas terras foram reduzidas. A população Xavante é muito grande, e eles estão num processo de retomada de algumas aldeias antigas que ficaram dentro de aldeias apropriadas por grilagem de terras. O fato de as crianças estarem mais vulneráveis e mal alimentadas faz com que elas fiquem mais doentes e isso, consequentemente, gera um agravamento das doenças.
Na terra dos Yanomami, ao contrário, não há problema de terras, porque eles têm uma área demarcada, têm liberdade de plantar o que quiserem, de caçar para manter o seu padrão reprodutivo. Mas, nos últimos três anos, como não há fiscalização, houve novamente a invasão de garimpeiros ilegais. Quando ocorre a invasão de garimpeiros, as doenças proliferam. Então, quanto mais doenças, mais as crianças sofrem, porque elas são o elemento de maior vulnerabilidade em situações de epidemias e alastramento de doenças. Nesse caso, podemos fazer uma relação séria entre essas situações.

"No ano passado registramos duas situações em que a mortalidade na infância foi muito alta"
|
|
IHU On-Line – Como a senhora interpreta o dado de que 135 indígenas cometeram suicídio em 2014? É possível identificar as razões que estão por trás desses suicídios?
Lucia Helena Rangel – Os casos de suicídios atingem, sobretudo, os jovens, que se autoinfligem essa violência, que é uma escolha complicada. É claro que o suicídio é parte do livre-arbítrio, que é algo intrínseco ao ser humano. Obviamente, não vamos dizer que o suicídio é algo excepcional; ele sempre existiu desde a antiguidade, mas quando você vê que o número de suicídio entre jovens está muito alto, trata-se de algo preocupante. O caso mais agudo e emblemático foi o de Mato Grosso do Sul, com o povo Kaiowá-Guarani. Dos 135 casos de suicídios registrados no ano passado, só em Mato Grosso do Sul foram registrados 48. No Alto Solimões foram registrados 37 casos; é um número alto. O que está acontecendo?
Já registramos casos no Alto Rio Negro, e no Alto Solimões não é a primeira vez que ocorrem esses registros. Mas, se em Mato Grosso do Sul temos uma situação de violência endêmica — que o Cimi denuncia há muitas décadas — e já identificamos uma situação de genocídio, porque o índice de mortes é muito alto, podemos fazer essa relação entre o cenário da violência com todos os fatores implicados na sociedade Kaiowá-Guarani em função da pressão social que eles vivem. Neste caso, podemos entender que os jovens parecem estar preferindo se livrar dessa opressão de outra maneira. Alguns vão embora, mas outros acabam cometendo suicídio, porque acabam ficando sem perspectiva.
No Alto Rio Negro os indígenas têm terras, poderiam estar produzindo. A população Ticuna, que é o povo mais numeroso dessa região, é enorme, tem mais de 30 mil pessoas. Mas ali tem desmatamento, tráfico de drogas e uma mistura entre as aldeias e a cidade. Algumas aldeias se transformaram em cidades, com muitas pessoas aglomeradas. Nesse contexto de fronteira, com uma série de fatores fortes do ponto de vista dos valores sociais, existe a emergência de um racismo muito grande: há muitas religiões, cultos religiosos, influências das mais variadas, como o tráfico de drogas, e aí quando se vê o que está acontecendo com os jovens, é possível fazer a relação com o contexto, por conta do racismo.
Os jovens são muito pressionados por um moralismo esdrúxulo que se instala nessas realidades que não são só híbridas, mas são difíceis por causa desses fatores que envolvem o tráfico, o dinheiro. Há um contexto de violência nas mais variadas regiões do país, mas em cada local há um tipo de consequência. No entanto, quando vamos ver, as consequências são semelhantes, como suicídio, assassinato, mortalidade na infância. Ao analisar essas situações, constatamos problemas que já deveriam ter sido solucionados, mas ainda não foram.
IHU On-Line – Quantas comunidades vivem em isolamento? A violação de direitos também já atinge esses povos?
Lucia Helena Rangel – Atualmente achamos que mais de 90 comunidades estariam nessa categoria de povos isolados ou de pouco contato. Nós não podemos dizer que são 90 povos porque, talvez, muito provavelmente, algumas comunidades pertençam a um mesmo povo. Essa situação é presente em nossa realidade latino-americana, sobretudo na Amazônia, e os indícios de que existem comunidades isoladas são encontrados constantemente: ou porque houve uma fumaça ou porque foi encontrada uma flecha ou porque um roçado foi roubado. Esses são indícios concretos, não estamos falando de suposições, e talvez pudéssemos dobrar esse número.
O que parece é que essas são comunidades, são grupos que se isolam no sentido de se protegerem dos ataques que sofreram. Quando houve a retirada de produtos da floresta, como seringa, madeira, quando pessoas se instalaram nas fazendas e mataram os que moravam nelas, como aconteceu em Rondônia e em Mato Grosso, algumas comunidades se isolaram. Os capangas das fazendas colocavam açúcar no caminho dos índios e depois misturavam esse açúcar com arsênico e matavam todo mundo. Inclusive houve casos em que atacaram as aldeias, colocando fogo nas casas. Nessas situações, provavelmente, nem todos morreram e os que conseguiram fugir se agruparam e foram se embrenhando cada vez mais dentro da mata, se distanciando desses ataques.
Parece, ao que tudo indica, que a maior parte dessa comunidade esteja se protegendo desses ataques e por isso é difícil encontrá-los, porque o afastamento é deliberado. Dessa forma, o contato fica difícil, porque depende da boa vontade deles de aparecerem e de não desconfiarem. Quando a Funai manda uma frente de atração, ou mesmo o próprio pessoal do Cimi vai para a Amazônia e tenta estabelecer contato, é bem difícil, porque até eles perderem a desconfiança, demora.
Os povos mais vulneráveis talvez sejam esses. O que acontece no Vale do Javari, no Amazonas, por exemplo, é uma situação também muito aguda. Ali tem uma terra enorme demarcada, é área de proteção, a qual a Funai chama de proteção etnoambiental, onde há um posto de atendimento, com antena, rádio, com alguns equipamentos de saúde, há equipes de saúde trabalhando, mas nem todas as aldeias da região foram contatadas, e ninguém nem sabe, de fato, quantas aldeias existem ali. Portanto, trata-se de uma região em que as comunidades vivem de forma bastante vulnerável. Ali no Vale do Javari começou a ter uma situação extremamente grave de doenças, como hepatite e malária, mas a hepatite é endêmica, é uma coisa terrível, e as crianças sofreram demais com essas viroses, gripes, com agravamento dos sintomas e evolução das doenças. E essa situação contribui para que os índices de mortalidade sejam muito altos.
|

"Os três Poderes – o Executivo, o Legislativo e o Judiciário – são contra os direitos indígenas"
|
IHU On-Line – O que os dados do Relatório Violência Contra os Povos Indígenas no Brasil – dados de 2014 revelam sobre a política indigenista no país?
Lucia Helena Rangel – Sobre isso, podemos dizer o seguinte: os três Poderes — o Executivo, o Legislativo e o Judiciário — sãocontra os direitos indígenas. Então, há juízes que entendem do problema, o Ministério Público acode, mas a maior parte dos juízes dá ganho de causa para fazendeiros, impedindo o registro de uma terra que foi homologada pelo Presidente da República. No Congresso Nacional, deputados e senadores tentammodificar os direitos constitucionais e o Executivo federal, estadual e municipal também se coloca contra a população indígena. Há casos de prefeituras que recebem dinheiro porque têm escola indígena no município, mas não fazem o repasse da verba, o atendimento de saúde é precário e ainda há muita invasão de terras indígenas.
Neste ano está sendo preparada a Conferência de Política Indigenista, e as lideranças indígenas de todos os estados estão envolvidas nas primeiras discussões que vão culminar, em novembro, em um Fórum Nacional para construir uma política indigenista mais favorável aos indígenas. Trata-se de uma mobilização muito necessária, porque as ações contra os indígenas são muito fortes no país inteiro.
IHU On-Line – O que seria uma alternativa para resolver as questões indígenas no país?
Lucia Helena Rangel – Os problemas das comunidades indígenas se arrastam há séculos e, de 1960 para cá, os índios só perderam. Quando surge alguma proposta de demarcação de terras, como foi a do Parque dos Yanomami, oParque do Xingu, as pessoas perguntam por que tem de se dar tanta terra para poucos índios e afirmam que eles não sabem trabalhar. Mas não é nada disso, pelo contrário, essa terra é um resto do que sobrou.
Vivemos um problema ético no Brasil, porque o não reconhecimento dos direitos indígenas e dos direitos sociais, em geral, é uma questão que só pode ser discutida e colocada no âmbito da ética. A sociedade, digamos assim, e suas elites, não admitem esses direitos. Como faz para mudar uma mentalidade? Irá decretar? O decreto está feito, a Constituinte abrigou esses direitos e os colocou na Constituição, mas não há meio de as elites concordarem com isso. Elas não admitem esses direitos, toda hora querem mudá-los. Para mudar a mentalidade nós precisamos de ações que, aos poucos, vão conquistando uma coisa, conquistando outra e quem sabe um dia construiremos uma boa ética da diversidade.
Por Patrícia Fachin
Fonte: IHU