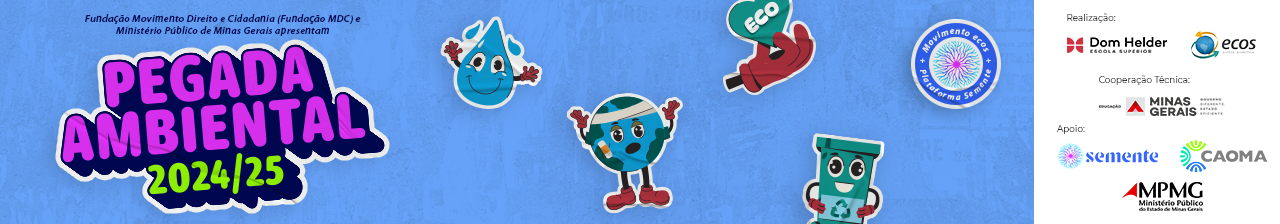“A financeirização da natureza é a ação de tornar financeiro aquilo que é eminentemente econômico. Isso porque a melhora da qualidade de vida também é uma questão econômica”, propõe a economista.
 |
| Foto: teleport2001.ru |
De acordo com o Ministério da Agricultura, durante o ano de 2013 o agronegócio brasileiro atingiu a cifra recorde de 99,9 bilhões de dólares em exportações. Soja, milho, cana ou carne ganham os mercados externos na forma de commodities: padronizadas, certificadas e atendendo a determinados critérios e valores regulados internacionalmente.
Para a economista Amyra El Khalili, no entanto, as monoculturas extensivas não deveriam ser a única alternativa de produção brasileira. A movimentação econômica envolvendo as commodities tradicionais exclui do processo os pequenos e médios produtores, extrativistas, ribeirinhos e as populações tradicionais. Sem grandes incentivos governamentais, sem investimento para atingir os elevados padrões de qualidade nacionais e internacionais ou capacidade produtiva para atingir os mercados, estes permanecem sempre à margem do sistema.
Foi com base no raciocínio da inclusão que a economista de origem palestina criou o conceito de commodity ambiental. Em entrevista concedida por e-mail à IHU On-Line, ela aborda a polêmica dos créditos de carbono (uma “comoditização da poluição”), questiona o fornecimento de créditos por Redução de Emissões por Desmatamento (Redd) para o agronegócio e descreve o conceito inicial criado por ela. “Uma commodity tradicional é a matéria-prima extraída do ecossistema, que é manufaturada, padronizada por um critério internacional de exportação adotado entre transnacionais e governos”. Por outro lado, a commodity ambiental “também terá critérios de padronização, mas adotando valores socioambientais e um modelo econômico totalmente diferente”.
Khalili, que durante mais de 20 anos atuou como operadora de ouro no mercado financeiro, relata que o termo commodity é usado como uma provocação. O conceito está em permanente construção, mas atualmente representa o produto manufaturado pela comunidade de forma artesanal, integrada com o ecossistema e que não promove impacto ambiental.
A commodity convencional privilegia a monocultura, a transgenia e a biologia sintética, com seus lucros concentrados nos grandes proprietários. A ambiental é pautada pela diversificação de produção, pela produção agroecológica e integrada, e privilegia o associativismo e o cooperativismo.
Amyra El Khalili é economista graduada pela Faculdade de Economia, Finanças e Administração de São Paulo. Atuou nos Mercados Futuros e de Capitais como operadora da bolsa, com uma carteira de clientes que ia do Banco do Brasil à Bombril S/A e o Grupo Vicunha. Abandonou o mercado financeiro para investir seu tempo e energia no ativismo. É fundadora e idealizadora da Bolsa Brasileira de Commodities Ambientais, do Movimento Mulheres pela P@Z e editora da Aliança RECOs (Redes de Cooperação Comunitária Sem Fronteiras). Khalili ministra cursos de extensão e MBA em diversas universidades, por meio de parcerias entre a rede, entidades locais e centros de pesquisa. É autora do e-book gratuito Commodities Ambientais em missão de paz – novo modelo econômico para a América Latina e o Caribe (São Paulo: Nova Consciência, 2009).
Confira a entrevista.
 |
| Foto: Editora Fórum |
IHU On-Line – Existe diferença entre comoditização da natureza e financeirização da natureza? Quais?
Amyra El Khalili – Existe, mas uma acaba interferindo na outra. A comoditização da natureza é transformar o bem comum em mercadoria. Ou seja, a água, que na linguagem jurídica é chamada de bem difuso, deixa de ser bem de uso público para ser privatizada, para se tornar mercadoria. A financeirização é diferente, é a ação de tornar financeiro aquilo que é eminentemente econômico.
Isso porque a melhora da qualidade de vida também é uma questão econômica. Uma região onde as pessoas conseguem conviver com a natureza e tem acesso à água limpa, por exemplo, oferece um custo financeiro melhor, onde você vive melhor e gasta menos. Isso também tem fundamento econômico.
IHU On-Line – No caso da financeirização da natureza, o que se encaixaria nessa descrição?
Amyra El Khalili – A nossa obrigação de pagar por serviços que a natureza nos faz de graça e que nunca foram contabilizados na economia, como sequestrar o carbono da natureza, por exemplo. As árvores sequestram o carbono naturalmente, mas para ter qualidade de ar daqui para frente é preciso pagar para respirar. Nessa lógica, aquele que respira precisa pagar pelo preço daquele que poluiu, enquanto este deixa de ser criminalizado e recebe flexibilidade para não ser multado.
IHU On-Line – Você foi a criadora do conceito de commodities ambientais, que é bem diferente da comoditização da natureza. Qual era a sua proposta inicial para o termo?
Amyra El Khalili – Uma commodity tradicional é a matéria-prima extraída do ecossistema, que é manufaturada, padronizada por um critério internacional de exportação adotado entre transnacionais e governos. Os pequenos e médios produtores, os extrativistas e ribeirinhos, entre outros, não participam dessas decisões. O ouro, minério, não é uma commodity enquanto está na terra, é um bem comum. Ele torna-se uma quando é transformado em barras, registrado em bancos, devidamente certificado com padrão de qualidade avaliado e adequado a normas de comercialização internacional.
A commodity ambiental também terá critérios de padronização, mas adotando valores socioambientais e um modelo econômico totalmente diferente. O conceito está em construção e debate permanente, mas hoje chegamos à seguinte conclusão: a commodity ambiental é o produto manufaturado pela comunidade de forma artesanal, integrada com o ecossistema e que não promove o impacto ambiental como ocorre na produção de commodities convencionais.
A convencional (soja, milho, café, etc.) é produzida com monocultura e a ambiental exige a diversificação da produção, respeitando os ciclos da natureza de acordo com as características de cada bioma. A convencional caminha para transgenia, para biologia sintética e geoengenharia; a outra caminha para a agroecologia, permacultura, agricultura alternativa e de subsistência, estimulando e valorizando as formas tradicionais de produção que herdamos de nossos antepassados. A convencional tende a concentrar o lucro nos grandes produtores, já a ambiental o divide em um modelo associativista e cooperativistas para atender a maior parte da população que foi excluída do outro modelo de produção e financiamento.
O Brasil concentra sua política agropecuária em cinco produtos da pauta de exportação (soja, cana, boi, pinus e eucaliptos). A comoditização convencional promove o desmatamento, que elimina a biodiversidade com a abertura das novas fronteiras agrícolas. Nós somos produtores de grãos, mas não existe apenas essa forma de geração de emprego e renda no campo. Quantas plantas nós temos no Brasil? Pense na capacidade da riqueza da nossa biodiversidade e o que nós poderíamos produzir com a diversificação. Doces, frutas, sucos, polpas, bolos, plantas medicinais, chás, condimentos, temperos, licores, bebidas, farinhas, cascas reprocessadas e vários produtos oriundos de pesquisas gastronômicas. Sem falar em artesanato, reaproveitamento de resíduos e reciclagem. O meio ambiente não é entrave para produzir, muito pelo contrário.
IHU On-Line – Como é possível transformar em commodity algo produzido de forma artesanal?
Amyra El Khalili – O termo é justamente uma provocação. Na commodity ambiental utilizamos critérios de padronização reavaliando os critérios adotados nas commodities tradicionais. Por isso cunhei o termo para explicar a “descomoditização”. No entanto, diferentemente das convencionais, os critérios de padronização podem ser discutidos, necessitam de intervenções de quem produz e podem ser modificados. Nas commodities ambientais, o excluído deve estar no topo deste triângulo, pois os povos das florestas, as minorias, as comunidades que manejam os ecossistemas é que devem decidir sobre esses contratos, critérios e gestão destes recursos, uma vez que a maior parte dos territórios lhes pertence por herança tradicional.
Com objetivo de estimular a organização social, cito um exemplo de comercialização associativista e cooperativista bem-sucedida. É o caso dos produtores de flores de Holambra (SP). Além de produzirem com controle e gestão adequados às suas necessidades, a força da produção coletiva e o padrão de qualidade fizeram com que o seu produto ganhasse espaço e reconhecimento nacional.
Hoje você vê flores de Holambra até na novela da Globo. Essa produção, porém, ainda está no padrão de commodities convencional, pois envolve o uso de agrotóxicos. Mesmo assim conseguiu adotar outro critério para decidir sobre a padronização, comercialização e precificação, libertando-se do sistema de monocultura. A produção de flores é diversificada, o que faz com que o preço se mantenha acima do custo de produção, auferindo uma margem de lucro para seus produtores.
Inspirados no exemplo de comercialização da Cooperativa Agrícola de Holambra com o sistema de Leilão de Flores (Veiling), desenvolvemos um projeto de comercialização das commodities ambientais, além de novos critérios integrados e participativos de padronização com associativismo. No entanto, o governo também precisa incentivar mais esse tipo de produção alternativa e comunitária. A Anvisa, por exemplo, exige normas de vigilância sanitária e padrões de industrialização que tornam inacessível para as mulheres de Campos dos Goytacazes colocarem suas goiabadas nos supermercados brasileiros (para além de sua cidade). Quem consegue chegar aos supermercados para vender um doce? Só a Nestlé, só as grandes empresas.
E o questionamento que está sendo feito é justamente esse. Abrir espaço para que pessoas como as produtoras de doces saiam da margem do sistema econômico. Que elas também possam colocar o seu doce na prateleira e este concorra com um doce industrializado, com um preço que seja compatível com sua capacidade de produção. Não é industrializar o doce de goiaba, mas manter um padrão artesanal de tradição da goiabada cascão. Se nós não tivermos critérios fitossanitários para trazer para dentro essa produção que é feita à margem do sistema, elas vão ser sempre espoliadas e não terão poder de decisão. O que se pretende é que se crie um mercado alternativo e que esse mercado tenha as mesmas condições, e que possam, sobretudo, decidir sobre como, quando e o que produzir.
IHU On-Line – O termo commodities ambientais é por vezes utilizado de maneira distorcida, como que fazendo referência às commodities tradicionais, mas aplicada a assuntos ambientais, como os créditos de carbono. De que modo foi feita essa apropriação?
Amyra El Khalili – Ele foi apropriado indevidamente pelos negociantes do mercado de carbono. Eles buscavam um termo diferente da expressão “créditos de carbono”, uma palavra que já denuncia um erro operacional. Afinal, se você quer reduzir a emissão, por que creditar permissões para emitir? Contadores, administradores de empresa e pessoas da área financeira não entendiam como se reduz emitindo um crédito que entra no balanço financeiro como ativo e não como passivo.
Como o nome créditos de carbono não estava caindo na graça de gente que entende do mercado, eles pegaram a expressão commodities ambientais para tentar justificar créditos de carbono. Porque na verdade estavam comoditizando a poluição e financeirizando-a. É o que consideramos prática de assédio conceitual sub-reptício: quando se apropriam das ideias alheias, esvaziam-nas em seu conteúdo original e preenchem-nas com conteúdo espúrio. É importante salientar que esse “modus operandi” está ocorrendo também com outras iniciativas e temas como a questão de gênero e étnicas. Bandeiras tão duramente conquistadas por anos de trabalho e que nos são tão caras.
IHU On-Line – Os defensores da Redução Certificada de Emissão promovida pelos Créditos de Carbono afirmam que apesar desse recurso oferecer aos países industrializados uma permissão para poluir, o governo estabelece um limite para estas transações. Você concorda com tal afirmação?
Amyra El Khalili – Esse controle tanto não é feito de maneira adequada, que desde 2012 há uma polêmica no parlamento europeu de grupos que exigem que a Comunidade Europeia retenha 900 milhões de permissões de emissão autorizadas após o mercado ter sido inundado por estas permissões (cap and trade). São permissões auferidas pelos órgãos governamentais que foram vendidas quando a cotação dos créditos de carbono estava em alta e agora caíram para quase zero.
Então na teoria pode ser muito bonito, mas entre a teoria e a prática há uma distância oceânica. Há também o seguinte: ainda que você tenha o controle regional, a partir do momento que um título desses vai ao mercado financeiro e pode ser trocado entre países e estados em um sistema globalizado, quem controla um sistema desses? Se internamente, com os nossos títulos, às vezes ocorrem fraudes e perda de controle tanto com a emissão quanto com as garantias, como se vai controlar algo que está migrando de um canto para outro? É praticamente impossível controlar volumes vultosos de um mercado intangível e de difícil mensuração.
IHU On-Line – A China e a Califórnia planejam utilizar os arrozais como fonte para créditos de carbono, o que levou a uma reação da comunidade ambiental com o movimento No-Redd Rice. Em que consiste o movimento e por que ele é contrário a este acordo?
Amyra El Khalili – O REDD, a Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal, é a compra de um título em créditos de carbono sobre uma área de floresta que deve ser preservada. Trata-se de mais um exemplo de financeirização da natureza, pois vincula a comunidade local a um contrato financeiro em que ela fica impedida de manejar a área por muitos anos, enquanto a outra parte do contrato continua produzindo e emitindo poluição do outro lado do mundo.
No caso do arroz com REDD, acontece o seguinte: com o entendimento de que uma floresta sequestra carbono, e que é possível emitir créditos de carbono sobre uma área preservada de floresta, o argumento é que a plantação também sequestra. O transgênico inclusive sequestra mais carbono do que a agricultura convencional, porque a transgenia promove o crescimento mais rápido da planta e acelera o ciclo do carbono. Então qualquer coisa que você plantar na monocultura intensiva, como a cana ou a soja, vai sequestrar carbono também. E, por isso, o agronegócio deseja emitir créditos de carbono também para a agricultura. Podemos dizer que não sequestra? Não, realmente sequestra, mas e quanto aos impactos ambientais?
O movimento internacional contra REDD com Arroz está se posicionando porque isso pressionará toda produção agropecuária mundial, colocando os médios e pequenos produtores, populações tradicionais, populações indígenas novamente reféns das transnacionais e dos impactos socioambientais que esse modelo econômico excludente está causando, além de afetar diretamente o direito à soberania alimentar dos povos, vinculando o modelo de produção à biotecnologia e com novos experimentos bio-geo-químicos.
IHU On-Line – O problema é que, se o crédito de carbono foi criado com o objetivo de diminuir os impactos ambientais, não se pode colocar sob uma monocultura que gera impactos da mesma forma a possibilidade de solução do problema, correto?
Amyra El Khalili – Exatamente. Outra coisa importante é que, mesmo com o conceito commodity ambiental estando em construção coletiva e permanentemente em discussão, hoje nós temos a certeza do que não é uma commodity ambiental. Elas não são transgênicas, nem podem ser produzidas com derivados da biotecnologia — como biologia sintética e geoengenharia. Não são monocultura, não podem se concentrar em grandes produtores, não causam doenças pelo uso de minerais cancerígenos (amianto), não usam produtos químicos, nem envolvem a poluição ou fatores que possam criar problemas de saúde pública, pois estes elementos geram enormes impactos ambientais e socioeconômicos.
A produção agrícola, como é feita hoje, incentiva o produtor a mudar sua produção conforme o valor pago pelo mercado. Então se a demanda for de goiaba, só se planta goiaba. Nas commodities ambientais, não. Não é o mercado, mas o ecossistema que tem o poder de determinar os limites da produção. Com a diversificação da produção, quando não é temporada de goiaba é a de caqui, se não for caqui na próxima safra tem pequi e na seguinte melancia. Se começarmos a interferir no ecossistema para manter a mesma monocultura durante os 365 dias do ano, vamos gerar um impacto gravíssimo.
IHU On-Line – O que é a água virtual e como esse conceito se encaixa na discussão de commodities?
Amyra El Khalili – A água virtual é a quantidade de água necessária para a produção das commodities que enviamos para exportação. No Oriente Médio, ou em outros países em crise de abastecimento, como não há água para a produção agrícola extensa a alternativa é importar alimento de outros países. Quando se está importando alimento, também se importa a água que este país investiu e que o outro deixou de gastar.
O que se defende na nossa linha de raciocínio é que, quando exportamos commodities tradicionais (soja, milho, boi, etc.), se pague esta água também. No entanto, não é paga nem a água, nem a energia ou o solo gasto para a produção daquela monocultura extensiva. A comoditização convencional, no modelo que temos no Brasil há 513 anos, é altamente consumidora de energia, de solo, de água e biodiversidade, e esse custo não está agregado ao preço da commodity. O produtor não recebe este valor, pois vende a soja pelo preço formado na Bolsa de Chicago. Quem compra commodity quer pagar barato, sempre vai pressionar para que este preço seja baixo.
Ainda sobre a água, se é na escassez dos recursos que estes passam a ser valorizados como mercadoria, quais as perspectivas de uma crise mundial no abastecimento hídrico?
Amyra El Khalili – Eu considero a questão hídrica a mais grave e mais emergencial no mundo. Sem água não há vida, ela é essencial para a sobrevivência do ser humano e de todos os seres vivos. A falta de água é morte imediata em qualquer circunstância. No Brasil não estamos livres do problema da água. Muita dessa água está sendo contaminada com despejo de efluentes, agrotóxicos, químicos e com a eminência da exploração de gás de xisto, por exemplo, onde a técnica usada para fraturar a rocha pode contaminar as águas subterrâneas.
Os pesquisadores e a mídia dão ênfase muito grande para as mudanças climáticas, que é a consequência, sem aprofundar a discussão sobre as causas. Dão destaque para o mercado de carbono como “a solução”, sem dar prioridade para a causa que é o binômio água e energia. O modelo energético adotado no mundo colabora para esses desequilíbrios climáticos, se não for o maior responsável entre todos os fatores. Nós somos totalmente dependentes de energia fóssil, e no Brasil temos um duplo uso da água: para produzir energia (hidrelétricas) e para produção agropecuária e industrial, além do consumo humano e de demais seres vivos.
E por que é necessário produzir tanta energia? Porque nosso padrão de consumo é altamente consumidor. Seguimos barrando rios e fazendo hidrelétricas, e quando barramos rios, matamos todo o ecossistema que é dependente do ciclo hidrológico. Caso o binômio água e energia seja resolvido, também será resolvido o problema da emissão de carbono. Quando se resolve a questão hídrica, recompomos as florestas, as matas ciliares, a biodiversidade. O fluxo de oxigênio no ambiente e a própria natureza trabalhará para reduzir a emissão de carbono. Se não atacarmos as causas ficaremos circulando em torno das consequências, sem encontrarmos uma solução real e eficiente para as presentes e futuras gerações.
(Por Andriolli Costa)
Fonte: IHU – Unisinos